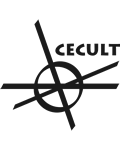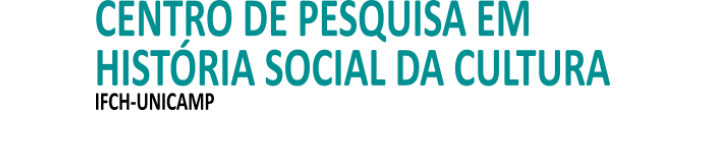As linhas de força das investigações empreendidas pelos diversos integrantes do grupo serão apresentadas aqui de acordo com desdobramentos dos problemas históricos que orientam este Projeto, seguindo balizamentos cronológicos específicos. É preciso observar porém que, embora as pesquisas individuais não possam prescindir das necessárias circunscrições espaço-temporais para viabilizar as pesquisas empíricas, todas mantêm um diálogo direto com o tema mais amplo do Projeto, assim como permitem intersecções diversas, a fim de estabelecer nexos capazes de iluminar a análise do modo como diferentes regimes de cidadania se articularam e entraram em conflito. Por isso, embora tenham sido inicialmente agrupadas associando recortes cronológicos e temáticos, o item 4 descreve outras conexões possíveis entre elas e como dialogam com as questões mais amplas do Projeto.
As linhas de força das investigações empreendidas pelos diversos integrantes do grupo serão apresentadas aqui de acordo com desdobramentos dos problemas históricos que orientam este Projeto, seguindo balizamentos cronológicos específicos. É preciso observar porém que, embora as pesquisas individuais não possam prescindir das necessárias circunscrições espaço-temporais para viabilizar as pesquisas empíricas, todas mantêm um diálogo direto com o tema mais amplo do Projeto, assim como permitem intersecções diversas, a fim de estabelecer nexos capazes de iluminar a análise do modo como diferentes regimes de cidadania se articularam e entraram em conflito. Por isso, embora tenham sido inicialmente agrupadas associando recortes cronológicos e temáticos, o item 4 descreve outras conexões possíveis entre elas e como dialogam com as questões mais amplas do Projeto.
1. Liberdades e direitos na América portuguesa
2. Direitos, cidadania e desigualdades no século XIX
3. Trabalhadores “livres”: exclusões e lutas por direitos
4. Diálogos transversais
1. Liberdades e direitos na América portuguesa
As sociedades do Antigo Regime estavam estruturadas a partir de hierarquias que diferenciavam a “qualidade” das pessoas conforme mais ou menos “privilégios” definidos com base em critérios como nascimento e honra. Assim, longe de postular a igualdade entre os homens, a arquitetura social distinguia grupos que se distribuíam por uma rede ordenada de relações de subordinação e graus sucessivos de poderes e responsabilidades (que podemos, com certo grau de anacronismo, designar genericamente como “direitos”), assim como de deveres e deferências. Sem serem detalhadas de modo explícito, tais distinções apareciam na legislação sobre os mais variados assuntos, separando a qualidade de pessoas e grupos sociais, tanto do ponto de vista civil quanto político. Poucas vezes as pessoas podiam ser consideradas iguais: somente na condição de vassalos de um mesmo soberano ou diante de Deus, como cristãs.[1] Ou seja, a noção de cidadania no Antigo Regime estava associada à prática do poder: os cidadãos eram aqueles que ocupavam os cargos da governança, os “homens bons” e suas famílias. Estamos longe, portanto, da chave da igualdade e da liberdade jurídica universal, tal como definida pelo liberalismo oitocentista.
A historiografia sobre as hierarquias sociais em Portugal dos séculos XVII e XVIII é extensa, mas revela-se tímida ao focalizar pessoas ou grupos sem privilégios ou distinções. Antonio Hespanha tratou do lugar jurídico atribuído aos menores, loucos, mulheres, rústicos selvagens, pobres e miseráveis,[2] mas há ainda enorme lacuna acerca da condição social do chamado “terceiro estado” e, especialmente, dos escravos e das pessoas livres de cor. As análises são ainda mais raras se o foco se amplia para considerar o tema nos quadros do império colonial português.
No caso da história da América portuguesa, há um debate entre os historiadores acerca do peso do escravismo (não apenas da escravidão) para alterações nas hierarquias sociais, especialmente no mundo colonial. Tomando posição nesse diálogo historiográfico, as pesquisas individuais de Silvia Hunold Lara e Lucilene Reginaldo consideram necessário avaliar os impactos do tráfico atlântico de escravos e da escravização em larga escala nas definições jurídicas, sociais e políticas das várias categorias nas sociedades coloniais. Apesar das similitudes entre os contextos colonial e metropolitano, a presença de uma multidão de origem africana desafiava as normas e os costumes estabelecidos, impondo novos problemas na definição de “direitos” e privilégios - seja no corpo da lei, seja nos costumes.
No século XVIII, mesmo quando a dominação escravista permanecia inquestionada no mundo português, a liberdade dos descendentes de africanos passou a ser um problema tanto político quanto jurídico, pois colocava em cheque a identificação dos pretos e pardos com o mundo da escravidão, desorganizando antigas ordenações sociais.[3] Particularmente sensível no caso da América portuguesa, a liberdade das gentes de cor e, sobretudo, a definição de seu “lugar” nas antigas hierarquias e estatutos sociais tornou-se um problema central, pois implicava não apenas a reconfiguração na distribuição de privilégios, mas também a inclusão de novas categorias no corpo político colonial e imperial.
No âmbito deste Projeto, a pesquisa individual de Silvia Hunold Lara, intitulada “Novos vassalos para Portugal: ameríndios e africanos no coração do Império português”, focaliza o quadro mais amplo da legislação pombalina sobre a liberdade,[4] considerando especialmente o caso das normas legais relativas aos ameríndios e aos africanos na América portuguesa. Algumas dessas normas têm sido estudadas de forma segmentada, associadas a temas específicos (como a história da escravidão e do tráfico de africanos[5] ou a da escravidão e liberdade dos ameríndios na América Portuguesa[6]), ou discutidas no quadro mais amplo das relações entre escravidão e liberdade no século XVIII.[7]
Há, porém, uma dimensão pouco abordada pela historiografia: as decorrências políticas e sociais da incorporação destas categorias sociais ao corpo político português. O alvará de lei de 1755, por exemplo, determina que os índios aldeados sejam considerados “vassalos de sua majestade” e passem a ser tratados “com todas aquelas honras, que cada um merecer pela qualidade das suas pessoas e graduação de seus postos”. O alvará com força de lei de 1773, que libertou os nascidos de ventre escravo em Portugal, estipula que eles fiquem “hábeis para todos os ofícios, honras e dignidades, sem a nota distintiva de libertos”. Em alguns casos, esta legislação sobre a liberdade mantém relação direta com outras determinações legais que seguem o mesmo sentido, como a que declara que os vassalos do Reino e da América que se casassem com as índias não sofreriam infâmia e proíbe que seus filhos fossem chamados de caboclos ou outro nome injurioso (alvará de lei de 4 de abril de 1755).
Ainda que, desde o início da colonização, os habitantes do Novo Mundo fossem considerados genericamente súditos de Portugal, tratava-se então, na segunda metade do século XVIII, de redimensionar o conceito de vassalagem, incluindo nele os “povos das conquistas” e os egressos da escravidão, atribuindo-lhes um lugar social específico, com direitos e privilégios. Geralmente abordadas no quadro das reformas pombalinas, tais alterações têm sido descritas em termos eminentemente legais e jurídicos, sem que seus significados sociais e políticos sejam discutidos.
A pesquisa de Silvia Lara analisa estes significados e tensões, seguindo dois caminhos principais. O primeiro diz respeito ao modo como as hierarquias políticas e sociais no Antigo Regime português no final do século XVIII foram impactadas por estas alterações: como as “novas” categorias sociais eram definidas juridicamente e quais direitos e privilégios eram atribuídos a elas. Com isso, pode-se ter mais clareza quanto ao lugar social atribuído às populações nativas das conquistas, aos habitantes das colônias, especialmente aos índios e africanos (e seus descendentes), escravos e libertos - tanto no mundo colonial quanto no metropolitano.[8] O segundo se refere às experiências dos recém incluídos: esta via implica reajustar o foco para abordar algumas conjunturas coloniais relacionadas a esta produção legal e seus desdobramentos, a fim de apreender as dinâmicas locais e seus significados sociais e políticos para diferentes sujeitos (administradores coloniais, senhores, índios e africanos escravizados, libertos, etc) e, especialmente, para os novos vassalos. O que significou equiparar de gente “sem qualidade”, até então destituída de honra e dignidade, e impossibilitada de ter acesso a cargos e terras, aos “nascidos em Portugal”? Quais os limites impostos aos novos vassalos na dinâmica das relações sociais? Quais as pechas e infâmias a que estavam submetidos? Importa também investigar o modo como estas modificações legais e jurídicas foram apreendidas pelas populações coloniais destituídas de privilégios. Bons exemplos nesta direção podem ser colhidos em análises sobre as reações indígenas diante da extinção das missões imposta pelo Diretório Pombalino[9] ou sobre a “esperança de liberdade” que os alvarás de 1761 e 1773 despertaram entre os cativos da Paraíba.[10]
A legislação e os debates envolvidos na formulação e na aplicação destas normas legais, assim como a documentação produzida pela administração metropolitana, permitirão a análise das questões mais gerais do tema. O exame de situações específicas demandará a seleção de fontes de outra natureza, ligadas às instâncias da governança local. O corpus documental a ser examinado dependerá de cada caso, conforme as condições de acesso, procurando-se sempre articular uma abordagem mais abrangente, envolvendo o império português, com a necessidade de focalizar relações sociais em conjunturas particulares e apreender o ponto de vista dos sujeitos históricos envolvidos. Tendo em vista o interesse em tratar dos significados sociais atribuídos à inserção destes novos vassalos ao corpo político português, a pesquisa procurará incorporar fontes iconográficas e literárias, cruzando-as com o material textual mais tradicionalmente utilizado nas pesquisas sobre o período.
Deixando o olhar panorâmico que visa o império colonial português na análise da experiência de ameríndios e africanos, o projeto individual de Lucilene Reginaldo, intitulado “O que pode a gente de cor livre? Cor, origem, condição e gênero informando impedimentos, privilégios e direitos - Mariana e Lisboa, 1750-1824”, parte das dinâmicas da liberdade para os egressos da escravidão e seus descendentes na América portuguesa para examinar os circuitos atlânticos. Ele investiga as tensões, as disputas legais e as estratégias vivenciadas e formuladas por homens e mulheres de cor - libertos ou nascidos livres - diante dos impedimentos e possibilidades de ascensão social em um contexto impactado por antigos e novos marcadores sociais entre o final do século XIII e primeiras décadas do XIX.
O estatuto social de pretos, pardos e mulatos livres ou libertos na América portuguesa, no Reino e nos enclaves coloniais na África da segunda metade do setecentos até a década de 1820, era definido de acordo com referenciais jurídicos e sociais pautados nas ordenações do Antigo Regime, nos estatutos de pureza de sangue e nas normas endógenas e dinâmicas locais forjadas na conquista e na colonização. De um lado, os libertos não se desvencilhavam completamente dos vínculos senhoriais após a alforria, ficando expostos ao risco da reescravização por ingratidão.[11] De outro, a proximidade geográfica com os antigos senhores poderia ser a garantia e a prova da liberdade. Ademais, suas origens africanas permitiam facilitar ou afirmar o pertencimento a determinadas comunidades, tais como as irmandades leigas, que podiam gozar de privilégios canônicos e régios estendidos aos associados.[12] As pessoas de cor livres abarcavam uma variedade de gente cujos estatutos sociais eram definidos muitas vezes desde o nascimento. Assim, eram evidentes as diferenças sociais entre um mulato filho de um homem igualmente mulato e trabalhador mecânico, de um pardo filho de uma mulher liberta e um pai com título de nobreza.[13] A gente de cor livre também galgava privilégios e reconhecimento por meio de serviços militares prestados à coroa e do acesso ao letramento, à instrução e a determinadas categorias profissionais.[14] Do mesmo modo, para as pessoas de cor livres, a proximidade e o distanciamento com a escravidão e com as origens africanas podiam se articular com outras condições e situações.[15] Em suma, impedimentos e privilégios eram impostos, acessados, estrategicamente reivindicados e, de acordo com os contextos locais, permitiam ou barravam o acesso a cargos públicos, instituições religiosas e de ensino. Nesse jogo de tantas peças e infinitas estratégias, ser homem ou mulher definia rigorosamente o leque de possibilidades de ascensão social e econômica da população de cor livre.[16]
Ao considerar este conjunto de problemas, a pesquisa de Lucilene Reginaldo coloca em diálogo as imposições jurídicas e os contextos locais, focalizando como as populações de cor livres lidaram com os limites e as brechas para defender e alargar a liberdade alcançada ou experimentada desde o nascimento. Enfatiza ainda o reconhecimento da diversidade de sujeitos no âmbito dessas populações, problematizando a historiografia sobre o “impedimento do mulatismo” que, em linhas gerais, concentra a atenção em grupos e categorias profissionais de forma estanque ao ignorar os determinantes que informam as disputas e diferentes estratégias.[17]
Sua análise conecta dois espaços do Império português, tendo em conta o significativo contingente de pessoas de cor livres nas Minas Gerais, a presença de mulatos e pardos livres na Lisboa Setecentista e a circulação de indivíduos entre os dois cenários. Seguindo algumas trajetórias individuais, seu objetivo é investigar o contexto de intensas lutas, debates e transformações que resultam na derrocada de privilégios e na instituição de “direitos”. Assim, a emergência de hierarquias pautadas em marcadores raciais e os debates constitucionais sobre direitos civis e políticos dos libertos e livres de cor no Reino, nas colônias e ex-colônias de Portugal definem os limites cronológicos da pesquisa.
Esta abarca uma documentação variada para lidar com contextos específicos e trajetórias individuais. Além da legislação, serão utilizadas cartas de alforria, testamentos e processos matrimoniais disponíveis no Arquivo da Casa Setecentista e no Arquivo do Bispado de Mariana, que permitem analisar sobretudo a condição de gênero das mulheres libertas e suas famílias. Tais documentos também oferecem informações para os lugares ocupados (cargos, profissões, lugares de prestígio) por pardos e mulatos. Pesquisas anteriores de Lucilene Reginaldo sobre estudantes pardos e mulatos na Universidade de Coimbra oriundos da região das Minas chamam a atenção para a instrução como estratégia de ascensão social. A investigação das trajetórias dos estudantes remete novamente para fontes guardadas nos arquivos mineiros e portugueses (Arquivo da Universidade de Coimbra, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Arquivo Histórico Ultramarino). Nestes últimos, pode-se garimpar histórias de pardos e mulatos nascidos no Reino, que, como estudantes universitários ou funcionários da Coroa, vivenciaram situações que explicitam as tensões no âmbito dos antigos privilégios, bem como a emergência de novos marcadores da diferença.
As dimensões sociais e políticas da liberdade serão revisitadas por estas duas pesquisas individuais a partir de um novo viés, reunindo questões relativas à história dos índios, dos africanos escravos, dos libertos e dos livres na América portuguesa. Ao inquirir o tema na conjuntura das reformas pombalinas e de seus desdobramentos no final do século XVIII e início do XIX, os dois projetos permitirão explorar o impacto de mudanças nas hierarquias sociais do Antigo Regime português, a partir de dois ângulos diferentes mas complementares. Num caso, trata-se de realizar um balanço dos significados atribuídos e experimentados pelos grupos sociais então recém libertados, e, no outro, empreender um exame das experiências de liberdade em um universo pautado por diferenças e desigualdades. Convergentes em termos de abordagem e recortes empíricos, ambos sugerem novas possibilidades de interpretação das tensões advindas dos processos de inclusão e exclusão social e política e do modo como as diferenças eram concebidas, equacionadas e experimentadas numa conjuntura histórica específica - articulando-se, portanto, às questões gerais deste Projeto. <voltar para o topo>
2. Direitos, cidadania e desigualdades no século XIX
Se o Antigo Regime se estruturava em critérios baseados na honra e no nascimento para delimitar as hierarquias sociais e políticas, o século XIX adotou o princípio geral de universalização de direitos e da igualdade de todos os cidadãos perante as leis - uma mudança radical no modo de conceber a sociedade, acompanhada pela formação dos Estados nacionais. A estruturação formal de direitos, proposta em linguagem inclusiva e universal, assentava-se, porém, sobre um leque vasto de exclusões em termos de classe, gênero e raça. Na Europa do século XIX e nos países formados a partir de suas ex-colônias nas Américas, a norma era condicionar os direitos políticos ao acesso à propriedade privada por meio da instituição do voto censitário. A Constituição de 1824, no Brasil, distinguia cidadania inativa e passiva. Cidadãos inativos eram homens livres sem renda suficiente para participar de eleições em qualquer nível. Os ativos eram os que tinham diferentes níveis de direitos eleitorais, ou seja, a depender de seu nível de renda, podiam votar e se candidatar a cargos eletivos municipais, provinciais e gerais.
À exclusão de classe, baseada no acesso à propriedade, adicionava-se o pressuposto geral presente nas constituições do Oitocentos de que cidadania era um conceito de gênero masculino. A mulher era não-cidadã por definição, daí derivando a incapacidade jurídica para uma gama enorme de atos corriqueiros da vida civil, como a impossibilidade de a mulher casada dispor de bens advindos da união conjugal sem o consentimento do marido (o exercício desse direito pelo marido vigorava, aliás, sem contestação legal possível). Escravos eram também não-cidadãos, tidos formalmente como um tipo de propriedade protegido pelo próprio pacto constitucional. Todavia, a Carta de 1824 reconhecia a possibilidade do exercício de direitos políticos limitados a escravos que se libertassem. Os libertos nascidos no Brasil, desde que atendessem ao requisito censitário, isto é, tivessem renda suficiente, poderiam participar de eleições locais e se candidatar às câmaras municipais. De qualquer forma, Perdigão Malheiro, quiçá o mais renomado especialista nesses assuntos no Brasil oitocentista, enfatiza o rigor das restrições aos direitos políticos dos libertos nascidos no país, atribuindo-o “ao preceito mais geral contra a raça Africana”.[18] Quanto aos escravos africanos, ao se alforriar, tornavam-se apátridas, sem possibilidade de exercer direitos políticos em qualquer nível.
Esse quadro de organização do direito e de fundamentação da cidadania no Brasil oitocentista levou a historiografia a abordá-lo a partir de enfoques variados. Vários historiadores buscaram pensar o campo da cidadania em sua relação com o processo de formação do Estado nacional brasileiro. Enquadram-se aqui não apenas os estudos da política, dos partidos e do Parlamento, mas também os dedicados ao surgimento e à atuação de instituições estatais como a polícia e a Justiça.[19] Na mesma linha, pode-se identificar os trabalhos que debateram a atuação dos indivíduos nas instituições do Estado, a exemplo da Guarda Nacional e do sistema de jurados.[20] Outra vertente dessa abordagem buscou pensar de maneira alargada os espaços para o exercício da política, incluindo as irmandades, associações de trabalhadores, festas, motins, rebeliões etc. Em todas essas análises se ressalta frequentemente o processo de formação da nação, pensada em termos de identidades coletivas que se formaram dentro do espaço nacional.[21]
É possível identificar ainda uma série de trabalhos que se voltaram principalmente para o campo do direito no Brasil oitocentista. Destacam-se os estudos sobre a criação de leis, as disputas travadas nos tribunais e o processo de incorporação do direito consuetudinário na formação do direito positivo. Cabe mencionar ainda os trabalhos que examinaram a luta de homens negros por seus direitos inscritos no arcabouço jurídico ou para alargá-lo com base em interpretações que favoreciam a liberdade em detrimento do cativeiro. Inclui-se aqui a história intelectual do direito e sua contribuição para a formação das instituições políticas do país. O arcabouço jurídico é ponto de partida desses trabalhos que, mesmo quando tratam do direito consuetudinário, voltam-se para a legislação a fim de entender de que maneira as práticas costumeiras foram incorporadas.[22]
As pesquisas de Robert Slenes, Sidney Chalhoub e Ricardo Pirola dialogam com tais estudos sobre o século XIX com base em uma gama ampla de fontes, como imprensa, literatura, processos judiciais, legislação, etc. O que os une são as conexões entre direito e cidadania para analisar como as relações sociais reafirmaram ou alargaram as exclusões presentes no ordenamento jurídico, produzindo diferentes regimes de cidadania. Em lugar da centralidade conferida ao Estado-nação e ao arcabouço jurídico na problematização dos direitos desiguais, tais pesquisas pretendem examinar de que modo os grupos subalternos confrontaram esse quadro de exclusões a partir do que consideravam justo. Enfrentam ainda de forma articulada dois aspectos marcantes da história do século XIX, mas que geralmente aparecem separados na literatura especializada: a expansão do escravismo (chamado de “segundo escravismo”) e dos projetos abolicionistas que impactaram as estruturas políticas e as hierarquias sociais.
Intitulada “Demandando ki-kúnda, ou a dádiva como direito: a economia moral centro-africana contra o ‘segundo escravismo’ (Brasil Sudeste, c. 1781-1888)”, a pesquisa de Robert Slenes enfoca as negociações e os embates entre escravizados (africanos e crioulos) e seus senhores no Sudeste do Brasil, especialmente em torno da alforria, entre 1781 e 1888 (“segundo escravismo”).[23] Trata-se de um período de grande expansão do escravismo nos EUA, no Caribe espanhol e no Brasil (nesta nação, especialmente no Sudeste), marcado também pela concentração crescente de escravos em grandes propriedades, caracterizadas por acirrada vigilância e violência no tratamento dos cativos, e pelo imbricamento cada vez maior com instituições e práticas típicas do capitalismo.[24]
Pesquisas sobre a alforria no Brasil têm enfatizado sua frequência, maior do que no restante das Américas e muito maior do que nos EUA. No que diz respeito a este último país, em 1860 apenas 6% da população negra e mulata era livre, enquanto no Brasil, em 1872, 76% da população “preta” e “parda” tinha essa condição.[25] Valendo-se de tais cifras, Rafael Marquese argumentou que, depois de Palmares, grandes rebeliões de escravos escassearam no Brasil por causa do caminho aberto à alforria.[26] Pesquisas posteriores têm matizado esta conclusão. Demonstram que a manumissão foi muito mais comum em pequenas propriedades, predominantes até o final do século XVIII, do que nas grandes.[27] Entretanto, com o crescimento da concentração de escravos nestas últimas a partir do final do século XVIII, a taxa de alforria na grande lavoura do Sudeste caiu drasticamente, enquanto a exploração dos cativos nesse contexto ficou bem mais pesada. Não surpreende, portanto, que pesquisas recentes sobre essas regiões de plantation no oitocentos tenham descoberto numerosos casos de violência escrava individual e de tentativas de rebelião coletiva contra senhores (algumas delas centradas em cultos para curar a “aflição”, típicos da África Central).[28]
A hipótese principal da pesquisa de Robert Slenes, no entanto, é que no Sudeste os cativos enfrentavam suas condições diferenciadas inicialmente a partir da mesma economia moral que trouxeram de suas origens. Por “economia moral” entende-se o conjunto de ideias de um grupo social sobre seus “direitos” (“costumeiros”, não só aqueles codificados em lei) nas relações com outros grupos. No caso específico, o termo remete àquilo que os escravizados definiam – dentro de suas condições específicas de cativeiro e as alternativas disponíveis – como o tratamento minimamente “justo” que deveriam receber de seus senhores. (O conceito de “economia moral”, central aos estudos de E. P. Thompson e do antropólogo James Scott, respectivamente sobre trabalhadores e camponeses, e aplicado em diversos estudos anteriores dos proponentes deste Projeto, tem voltado a ter força na historiografia internacional recente, provavelmente como reflexo do crescimento global das desigualdades sociais.)[29]
Da mesma forma como Thompson teve que recuar na história da Inglaterra até as guerras civis do século XVII para reconstruir a economia moral da classe operária em formação (c. 1780-1830), é necessário voltar no tempo no presente estudo – e também cruzar o Atlântico. Calcula-se hoje que em torno de 70% do total de africanos trazidos ao Brasil até o fim do tráfico em 1850 vieram da África centro-ocidental, região de línguas e culturas próximas. A proporção proveniente daquela região no Sudeste entre 1781 e 1850 não só era maior como continuava abarcando gente das mesmas origens (dos grupos Kongo, Mbundu, Ovimbundu e outros relacionados logo a leste). Ademais, o tráfico foi tão intenso que até 1850 a maioria de cativos adultos (tanto homens quanto mulheres) no Sudeste era da África centro-ocidental.[30]
Durante o processo milenar da expansão bantu nesta parte da África, a “fronteira interna” – a existência de terra boa para agricultura, não habitada – só começou a se fechar por volta de 1300/1400 E. C.[31] Até então, a autoridade de um chefe político dependia do reconhecimento, pelos parentes, de sua liderança moral e religiosa, não de sua riqueza ou força de armas, pois havia ampla oportunidade para a migração de gente insatisfeita com seu mando. Como resultado, as sociedades eram relativamente igualitárias, valorizando qualidades e conhecimentos de cada indivíduo.[32] Após os primeiros contatos com os europeus e o rápido crescimento do tráfico interno de escravos, o fechamento da fronteira se acelerou. Porém, a partir do final do século XVII, o tráfico para a América passou a impactar duramente as populações das sociedades da Zona Atlântica mais próximas à costa, que até então haviam suprido cativos a si e ao comércio atlântico através de razias contra vizinhos a leste.[33] O resultado desse comércio violento e da desagregação social causada por ele foi uma reabertura nessas sociedades da “fronteira interna”. (Novas estimativas indicam que a população total de uma “Zona Atlântica expandida” teria caído pelo menos 24% entre 1700 e 1850.)[34] Ao que parece, era uma fronteira caracterizada em parte por terras novamente disponíveis, mas também por chefes locais enfraquecidos pela exportação de braços e ávidos para negociar a incorporação de cativos fugidos como “dependentes” – escravos em nome, mas mais bem tratados e frequentemente com certa garantia de não serem vendidos para a América.[35]
Os dicionários de Kikongo e outras fontes sobre as sociedades da Zona Atlântica sugerem que a economia moral formada durante o longo período da expansão bantu – uma lei consuetudinária exigindo respeito e “dádivas de amigo” de gente hierarquicamente superior no trato com seus subordinados – teria sobrevivido durante todo o período do tráfico.[36] Por exemplo, kùndama, derivado de kùnda (“sentir-se bem”), significa “sentir-se bem [como] um escravo na casa de um bom senhor”; já ki-kúnda significa “respeito, dignidade” e ki-kúndi, “amigo”, “amizade”, “favor, benevolência”. Este conjunto de palavras parece se repetir no verbo kûnda no Kimbundu do Reino de Ndongo (por muito tempo subordinado ao Reino do Kongo), significando “prestar juramento de vassalagem”.[37] E no século XIX, a negociação para selar o “acordo de amigos” entre um cativo e um novo dono de sua preferência segue o mesmo ritual entre os Ovimbundu que entre os Kongo.[38]
Ao que parece, essa economia moral centro-africana teve continuidade no Sudeste do Brasil, região de fronteira relativamente aberta mesmo no período do segundo escravismo. A bibliografia aponta vários casos de adeptos “da arte da fuga” que negociam a troca de proprietários para ganhar melhores condições de vida.[39] E há continuidades no vocabulário em torno de “amizade”. Em Kikongo, outra palavra-parente de ki-kúnda e ki-kúndi é di-kúnda, “tronco de madeira, cadeira, banco”. Registra-se c. 1694 que é uma afronta no Kongo um chefe não dar banco para um missionário visitante sentar-se.[40] O significado de tal comportamento “inimigo” continuava vivíssimo no Brasil em 1888, pois um jongo daquele ano lamenta que a Princesa Isabel, assinante da Lei Áurea, não tenha dado terra – a base do respeito social – aos ex-escravos: “Dona Rainha me deu cama, não me deu banco pra me sentar”.[41] Contra poderosos senhores/senhoras que não agiam como amigos, havia poucas armas confiáveis e sem risco, a não ser a faca da ironia. Já perante a agency (protagonismo) de pequenos senhores, especialmente aqueles sem parentes poderosos – tão vulneráveis no “contraponto” da linha de frente (do trabalho) e da fronteira aberta, que precisavam “soltar anéis para não perder os dedos” – os cativos tinham, sim, a possibilidade de “arrancar” a alforria (na expressão de Sidney Chalhoub), mesmo que esta fosse precária.[42] Entretanto, suas estratégias, inclusive culturais e identitárias, necessariamente haviam de parecer mais “crioulas” (aparentadas às dos europeus) do que “africanas”, para garantir as “dádivas” que pensavam merecer como direito.
O raciocínio acima é desenvolvido em mais detalhe no último capítulo de um livro de Slenes em fase final de elaboração, Cultura centro-africana e identidade escrava nas plantations do Rio de Janeiro e São Paulo, 1781-1888.[43] O capítulo (“Demandando um assento de honra”) analisa os resultados de vários estudos locais sobre alforria no Sudeste, incluindo duas teses orientadas pelo autor.[44] A pesquisa projetada aqui visa aprofundar essa análise, com a aplicação intensiva do método de “ligação nominativa de fontes” aos documentos cartoriais e judiciários de Campinas (disponíveis no arquivo do Centro de Memória da UNICAMP) – e também, em menor escala, a fontes semelhantes na Bahia, onde Slenes é professor visitante (na UFBA) até outubro de 2021 – visando entender melhor os contextos em que senhores/senhoras, grandes e pequen@s, “(con)cediam” – e escravizad@s “conquistavam” – a alforria.[45] Paralelamente, Robert Slenes pretende continuar a trabalhar com a bibliografia e os dicionários/fontes publicados sobre a África bantu para conhecer melhor a economia moral centro-africana e seus desdobramentos no Brasil.
O projeto de pesquisa de Sidney Chalhoub intitula-se “O outro lado do silêncio: gênero e escravidão na literatura brasileira oitocentista”. Ao partir do conceito de “segundo escravismo”, já mencionado, o objetivo é estudar representações literárias da experiência dos escravizados nesse período, com foco principal na literatura brasileira da segunda metade do século XIX, porém buscando conexões possíveis com obras e autores norte-americanos e talvez cubanos.[46] Três transformações históricas associadas à reconfiguração do trabalho escravo nas Américas a partir das primeiras décadas do século XIX são relevantes nesse contexto. Primeiro, o fim do tráfico africano de escravos e o fato dele decorrente de as sociedades escravistas passarem a depender unicamente da reprodução natural para a reposição da força de trabalho tornaram o processo de emancipação assunto muito marcado por questões de gênero, centrado politicamente nos problemas do sofrimento da mãe escravizada e do abuso sexual da mulher negra. Segundo, a intensificação do tráfico africano ilegal, em Cuba e no Brasil, e o crescimento do tráfico interno de escravos, nos Estados Unidos e no Brasil após 1850, pautaram a experiência de liberdade de libertos e pretos e pardos livres, que se viram mais vulneráveis a práticas de suspeição de sua condição de livre e viveram de fato a tensão frequente de situações de escravização ilegal. Terceiro, o tráfico interno de escravos, no Brasil e nos Estados Unidos, provocou a precarização da experiência dos cativos no interior da própria escravidão, com a separação de famílias e o desmantelamento de comunidades de senzala, provocando fugas, crimes e outras formas de resistência escrava de consequências importantes para o encaminhamento político do processo de emancipação.
O projeto se desenvolverá por meio de três estratégias de pesquisa simultâneas.
Primeiro, serão identificadas e abordadas obras literárias (romances em sua quase totalidade) que tenham a escravidão e a experiência da liberdade na superfície do texto, por assim dizer. Nesse sentido, por exemplo, impõe-se o estudo de Uncle Tom’s Cabin, de Harriet Beecher Stowe,[47] traduzido como A cabana do pai Tomás em português. A obra, publicada em 1852 e um dos maiores sucessos editoriais do século XIX, apresenta duas tramas paralelas que convergem no tema do sofrimento dos escravizados em decorrência da venda deles no mercado interno de mão de obra no sul dos Estados Unidos. Numa dessas tramas, um senhor “bondoso” do Kentucky decide vender o filhinho de Elisa como uma de suas estratégias para lidar com uma urgência financeira. Ao descobrir que seu filho seria vendido, Elisa escapa com a criança. Ruma para o norte, atravessa um rio congelado, chega a Ohio e passa por muitas outras peripécias até alcançar o Canadá junto com o marido, que se juntara a ela. O romance de Stowe repercutiu no Brasil quase de imediato, inspirando literatos já na década de 1850.[48] O tráfico interno de escravos se intensificava no país, com o assunto presente nos debates parlamentares transcritos nos jornais, em anúncios e notícias de escravos à venda em lojas e por meio de leilões em praça pública. Entre março e junho de 1855, Nísia Floresta publica “Páginas de uma vida obscura”, novela em folhetim sobre as agruras de Domingos, congo, trazido ao Brasil pelo tráfico negreiro: capturado na África, escravo em Minas Gerais, vendido para o sul, vendido para o Rio de Janeiro, promessa de alforria, alforria gorada, separado da companheira pelo tráfico interno... Na hipótese de o leitorado não perceber, em certa passagem a autora se refere a Domingos como “o Tom brasileiro”.[49]
Segundo, serão localizados e estudados romances nos quais a escravidão aparece nos enredos, por assim dizer, na forma de sintomas cujos sentidos precisam ser investigados. Esses "sintomas" podem ser alegorias complexas propostas pelo autor numa demanda clara de interpretação, mas podem ser também registros não intencionais, acidentais, que no entanto permitem leituras a contrapelo da intenção autoral. Importante neste sentido é o livro de Toni Morrison, Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination, no qual a autora critica o mito de que os autores clássicos da tradição literária norte-americana do Oitocentos não tinham a escravidão e o racismo como temas estruturantes de suas obras.[50] Ao contrário, Morrison retoma autores canônicos da tradição para observar passagens que, apesar de não ocupar muito espaço na superfície da narrativa, ou talvez por isso mesmo, revelem as maneiras como o racismo impacta os autores e molda em grande medida o seu jeito de ver o mundo e de reinventá-lo na ficção. Em Machado de Assis, por exemplo, ao adaptarmos a proposta analítica de Morrison para a leitura a contrapelo dos narradores senhoriais-escravistas que ele inventa, podemos observar a passagem, em Memórias póstumas de Brás Cubas, capítulo XII, na qual o narrador lembra da ocasião em que sua família resolvera dar um banquete para celebrar a derrota de Napoleão. Ao se referir aos preparativos para a festa, diz assim: "Veio abaixo toda a velha prataria (...); vieram as toalhas de Flandres, as grandes jarras da Índia; matou-se um capado; (...) lavaram-se, arearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, arandelas, as vastas mangas de vidro, todos os aparelhos do luxo clássico". A omissão do sujeito dos verbos nessas ações de trabalho para o usufruto da classe senhorial diz muito daquela sociedade quando vista do prisma de um rico dono de escravos e de imóveis na Corte: a escravidão parecia naturalizada, tão parte da paisagem social que seria redundância nomeá-la ao descrever o mundo do trabalho, fosse o doméstico ou tantos outros.
Terceiro, há o interesse em investigar a hipótese de que há uma homologia importante entre a forma de Machado de Assis representar a atuação dos subalternos ou dependentes em sua literatura e a forma como, no âmbito jurídico, se afiguram as possibilidades e limites de atuação de mulheres e escravizados em geral. Por exemplo, assim como a fonte de reivindicação do direito à alforria por uma determinada escrava, numa ação de liberdade anterior a 1871, dependerá de ela tornar plausível, diante do juiz, a versão de que o direito dela se origina na vontade senhorial expressa de libertá-la, contrariada por terceiros, as personagens dependentes dos romances machadianos, mulheres quase sempre, agem para conseguir seus objetivos por meio de ações que produzem nos senhores, maridos, ou seja qual for a autoridade masculina da hora, a convicção de que é interesse deles fazer precisamente aquilo que é o objetivo delas. Neste sentido, a pesquisa também se debruça sobre um conjunto de processos cíveis a respeito de alforria condicional, de reescravização e de habeas corpus, constantes dos conjuntos documentais do Tribunal da Relação da Corte e do Supremo Tribunal de Justiça. São 71 processos de alforria condicional, 37 ações de escravidão e 56 processos de habeas corpus. Desses, Chalhoub pretende ler e estudar apenas aqueles nos quais uma das partes seja uma escrava ou escravas (ou liberta[s]), para permitir uma comparação entre narrativas jurídicas e ficcionais, essas exclusivamente de Machado de Assis. A hipótese, mais concretamente, é que nas filigranas das personagens femininas machadianas aflora, no registro ficcional, a maneira de as mulheres escravas e libertas lidarem com, e se protegerem da, violência senhorial. Observa-se, em alguns casos já estudados, tanto em obras literárias quanto em processos cíveis, situações de aliança circunstancial entre mulheres casadas pertencentes à classe senhorial e escravas, submetidas todas ao mesmo poder senhorial masculino.
A pesquisa de Ricardo Pirola, “Linchamentos no Brasil: Direitos, Controle Social e Identidade Racial (1850 a 1940)”, enfoca o fenômeno dos linchamentos no Brasil. Durante o processo abolicionista brasileiro e norte-americano (as duas maiores sociedades escravistas do continente), a politização da esfera jurídica levada a efeito em razão das lutas pela alforria fez recrudescer os linchamentos contra escravos e homens livres negros. Em ambos os países, emergiu forte violência extralegal justamente quando escravizados e libertos passaram a ganhar espaço na arena jurídica e no interior da burocracia estatal, ampliando direitos até então restritos aos homens livres.[51] Em outros termos, os embates em torno da ampliação da cidadania ao longo do século XIX extrapolaram os limites do arcabouço jurídico.
Tendo em vista tais considerações, Pirola ressalta a necessidade de se analisar o processo de conquista de direitos a partir das reações que ultrapassavam os espaços parlamentares e jurídicos, embora a estes estivessem estreitamente relacionados no contexto de reorganização das hierarquias sociais e raciais. Sua pesquisa pretende destacar a importância de se examinar as inflexões na produção de desigualdades no pós-abolição, quando a cidadania da população descendente dos africanos foi reinterpretada e legitimada ideologicamente com base na ciência. Na virada do século XIX para o XX, as teorias raciais e médicas ganharam impulso e foram acionadas para modelar iniciativas no interior do poder público, em especial no terreno do direito penal, marcado pelas disputas entre a Escola Clássica e a Escola Positiva.[52] Enquanto a primeira se assentava em princípios gerais de igualdade e livre arbítrio, de inspiração Iluminista, a segunda buscava respaldo em teorias biológicas e sociológicas. As diferenças entre as escolas podem ser mais bem observadas nas formas pelas quais se pensava o crime e a figura do criminoso. Para os adeptos da Escola Positiva, o julgamento de um crime e a determinação das penas deveriam se basear mais nas características psico-fisiológicas do criminoso do que no crime em si. As discussões sobre a melhor maneira de fixar a punição ou a recuperação do condenado iam desde a proposta de criação de hospícios até a aplicação da pena capital. Nesse contexto, Nina Rodrigues redigiu um Código Penal destinado a tratar dos crimes perpetrados por pessoas brancas, pardas e negras, de acordo com os atributos biológicos e psíquicos delas.[53]
É certo que os fundamentos mais salientes da Escola Positiva do direito penal não floresceram no Brasil, deixando de exercer influência vital na formulação do Código Penal republicano de 1890. A proposta de Nina Rodrigues tampouco seguiu adiante. Contudo, conforme assinala Marcos Alvarez, isso não significou que o país tivesse ficado incólume ao avanço desses debates e ideias. Muitas das teorias da Escola Positiva não eram vistas pelos juristas em oposição aos fundamentos do direito clássico, podendo ser vislumbradas sobretudo nas discussões sobre a imputabilidade criminal de réus menores de idade. Além disso, a influência mais evidente se deu no decorrer das práticas da Justiça, que desempenharam papel relevante no rearranjo de hierarquias sociais erodidas pela abolição. Assim, um dos desafios aqui é examinar de que maneira as práticas jurídicas se reorganizaram diante das proposições fincadas em tradições liberais conectadas a outras que sublinhavam os aspectos biológicos e raciais no campo penal. Cabe investigar de que forma delegados, promotores, advogados e juízes interpretaram tais teorias nas décadas seguintes à abolição, principalmente no que se refere ao problema da cidadania da população negra e mestiça, via de regra apontada pela ciência como racialmente inferior.
A pesquisa proposta por Ricardo Pirola se articula com este conjunto de questões. Ao se concentrar no estudo de casos ocorridos em períodos recentes da história brasileira, especialmente da década de 1980 em diante, a bibliografia dedicada ao tema dos linchamentos tem explicado o fenômeno a partir de elementos da criminalidade urbana. Ocorridos, em sua grande maioria, em bairros periféricos das grandes cidades, os linchamentos são interpretados como uma resposta da população à incapacidade do Estado de punir de forma adequada os crimes vivenciados cotidianamente. Ao enfatizar as expectativas frustradas da multidão em relação ao Estado, que não atende aos seus anseios de punição, a bibliografia acaba por ignorar um elemento central dessa questão, que é o fato de a multidão determinar em suas ações quem seria passível de direitos na sociedade brasileira. Assim, é fundamental entender os linchamentos não apenas como respostas extra-legais diante de uma atuação considerada pouco eficiente do Estado, mas também como uma forma de produzir exclusão de determinados indivíduos (ou grupos sociais) do pleno usufruto de direitos garantidos pelo arcabouço jurídico.
Nesse sentido, o estudo do fenômeno dos linchamentos entre a segunda metade do século XIX e a década de 1940 se justifica por dois motivos centrais: primeiro, trata-se de um período ainda pouco explorado por boa parte dos estudiosos dos linchamentos no Brasil (levantamentos de dados para determinados anos nessas décadas indicam que o fenômeno pode ter tido uma incidência maior do que se conhece até agora); segundo, o período foi marcado pelo processo de desmonte da escravidão e de conformação de uma sociedade baseada no “trabalho livre”. Um momento, portanto, de reorganização das hierarquias sociais e raciais no país e de intensos debates sobre a expansão de direitos de cidadania para os egressos da escravidão. Assim, é fundamental analisar as interações entre as instituições do Estado, especialmente a polícia e a Justiça, e a população em geral. Afinal, por que escravos eram linchados durante o período escravista? O castigo doméstico, aplicado pelo senhor, não era suficiente para reprimir os desvios da escravaria? A polícia e a Justiça não dispunham de instrumentos eficazes de repressão aos crimes cometidos por cativos, em defesa dos interesses senhoriais? Com relação aos linchamentos de livres, que motivos levavam a população a se levantar? Quais as alterações que ocorreram nos casos de linchamentos após a abolição? Quem participava dos linchamentos? Quais as implicações raciais desses linchamentos? É com tais questões em mente que Pirola conduzirá suas pesquisas sobre o tema dos linchamentos no Brasil.
Serão utilizadas três séries documentais. A primeira delas são os relatórios anuais produzidos pelos chefes de polícia São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia (localidades com maior concentração de escravizados no país). Nesses relatórios, as ocorrências de linchamento vinham descritas na seção “Polícia”, sob a rubrica “Tranquilidade Pública”. Tal organização é reveladora da própria visão da polícia em torno da questão, isto é, tratava-se de um fenômeno de perturbação da ordem, que deveria ser controlado (de fato, são recorrentes as notícias da ação da polícia naquela época para tentar conter os linchamentos). Outra fonte para o estudo é a imprensa do período. Para abarcar o conteúdo dos jornais ao longo das décadas, Pirola fará uso da ferramenta de busca disponibilizada pelo site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (será dada atenção para os termos “linchamento” e “lei de Lynch”). Destaca-se ainda a intenção de analisar folhetins publicados na imprensa no final do século XIX, quando se sobressai o tema dos linchamentos, como “A lei de Lynch”, de Gustave Aimard, o “Jornal da senhora Giovanni”, de Alexandre Dumas, e “O Matreiro”, de Gabriel Ferry. Pirola, por fim, analisará os processos-crime dos casos de linchamentos que resultaram no julgamento dos linchadores (já identificou três casos ocorridos no Rio de Janeiro e em São Paulo que resultaram na abertura de processos-crime).
A partir dessas fontes será possível desenvolver tanto uma análise quantitativa (voltada a identificar as variações de ocorrências de casos ao longo do tempo, regiões de maior incidência, perfil das vítimas e dos linchadores) quanto outra de caráter qualitativo que poderá aprofundar o entendimento das explicações para o surgimento das ocorrências de linchamentos. Fundamental ressaltar ainda que o projeto buscará atentar para as comparações produzidas pelos contemporâneos com o fenômeno do linchamento em outras partes do globo. A imprensa do século XIX, em especial, estabeleceu frequentes comparações com casos ocorridos nos EUA no mesmo período, permitindo uma abordagem transnacional da pesquisa.
3. Trabalhadores “livres”: exclusões e lutas por direitos
A legislação do trabalho, a despeito de remontar a vários séculos, a exemplo das leis elizabetanas da Inglaterra, somente passou a fazer parte de uma nova esfera jurídica com o advento do Direito do Trabalho, que emerge a partir da segunda metade do século XIX. Até então, o trabalho era tratado como mercadoria e fator de produção, fazendo triunfar o que Robert Steinfeld chamou de “ideologia do trabalho livre”,[54] segundo a qual a sociedade seria composta de indivíduos autônomos e essencialmente livres. De acordo com uma operação contratual inscrita na ordem privada, a relação empregado-empregador aparece como uma troca voluntária entre sujeitos iguais. Na medida em que a “questão social” era formulada com base na concepção do acesso livre ao mercado, segundo a crença no mercado capitalista autorregulado como princípio organizador da sociedade,[55] sem mediações, o trabalho e o trabalhador eram pensados no interior das prescrições do Direito Civil, ou assistidos por meio da tutela, da filantropia e da beneficência privada.[56] Prevalecia nesta concepção liberal um mundo imaginário de indivíduos livres e iguais na perspectiva da igualdade formal e jurídica entre eles.
Tal “regime de cidadania” sofreria abalos profundos com a emergência do chamado “Estado Social” em países europeus nas últimas décadas do século XIX.[57] O Direito Social abria-se como uma terceira via entre o liberalismo e a subversão da sociedade por métodos revolucionários. Emergia uma questão nova: como o poder público poderia intervir no “social” – “gênero híbrido e constituído na intersecção do civil e do político”[58] -, sem afetar o direito de propriedade? Foi em meio a questões como esta que a via jurídica da regulação do trabalho buscaria substituir o direito da força pela força do direito. A história do Direito do Trabalho foi a descoberta progressiva da dimensão pessoal do trabalho, que coloca em primeiro plano não mais o trabalho como bem, mas o trabalhador como sujeito de direito, procurando submeter o contrato de trabalho privado e individual às normas legais e jurídicas, abrindo-se aos direitos, à organização e às lutas coletivas.[59] Em suma, o Direito do Trabalho conferiu caráter público a relações sociais desenvolvidas na esfera privada, colocando-se na contramão do contratualismo liberal ortodoxo, baseado na ficção jurídica da autonomia das vontades individuais.
Todavia, ao focalizarmos as lutas dos movimentos operários por direitos no mesmo contexto da “invenção do social”, verificamos que a tradição liberal permanecia viva, deslocando ainda os direitos sociais e do trabalho para a esfera do Direito Civil. Por isso, os primeiros embates dos trabalhadores urbanos visando a conquista de direitos não têm sua origem no espaço jurídico, mas em práticas sociais, na cultura e nas ideias que delas derivam, ganhando crescente aceitação. Assim, a fixação de certos direitos em normas escritas tem lugar em momento posterior à sua existência como prática social. Exemplo disso é a luta pela jornada de oito horas de trabalho na Europa moderna, o que remonta ao século XVI, passando pelos movimentos dos trabalhadores ingleses no século XIX até os acontecimentos fatídicos da greve geral de 1º de maio de 1886 em Chicago, a partir de quando tal luta se vinculou definitivamente às celebrações do 1º de maio, data que ganharia crescente adesão internacional do movimento operário.[60] Na França, em que greves eram reprimidas a tiros pela polícia e pelo Exército, a jornada de oito horas se converteria em lei em 1919 diante da ameaça de greve geral.[61]
No Brasil, a observância do 1º de maio como data de luta pela referida jornada teve início em 1894 e ganhou força em massivas manifestações de rua. Conforme ocorreu em outras partes do mundo, as greves foram o principal meio para a obtenção das oito horas, mas a ausência de uma legislação que garantisse o direito fez com que tal jornada conquistada em momentos de mobilização deixasse de ser respeitada pelo patronato em períodos de descenso dos movimentos dos trabalhadores. Somente em 1932, por meio de decretos, Getúlio Vargas estabeleceria a jornada de oito horas para os trabalhadores do comércio e da indústria. A medida foi uma tentativa de oferecer uma resposta ao crescimento das greves em São Paulo, atendendo a uma demanda histórica dos trabalhadores.[62] Esses decretos seriam depois substituídos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943. Portanto, as lutas em torno das oito horas de trabalho antecederam e forçaram respostas legais e legislativas à demanda.
Ao mesmo tempo em que ganhava projeção o princípio da universalização dos direitos sociais, muito trabalhadores permaneceriam à margem de qualquer proteção legal. Ao longo da Primeira República, a obtenção de direitos nunca foi equitativa entre diferentes categorias de trabalhadores. Grupos profissionalmente mais qualificadas ou mais estratégicos para o funcionamento da economia dispunham de maior poder de pressão e barganha sobre o patronato e o Estado, de modo que obtinham nítida vantagem para conquistas salariais, de melhores condições de trabalho e direitos sociais. Parte significativa dos trabalhadores do Estado (funcionários públicos ou não) dispunham de fundos de aposentadorias e pensões quando, em 1923, o deputado federal Eloy Chaves conseguiu aprovar a lei que instituía as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) nas companhias ferroviárias privadas, legislação que se estenderia para portuários e marítimos em 1926. Tanto ferroviários quanto portuários e marítimos eram setores estratégicos para o funcionamento do sistema agro-exportador. Ao mesmo tempo, as particularidades do federalismo político da Primeira República e a diferente correlação de forças nos diversos estados tornaram possível a eleição de parlamentares dispostos a regulamentar as condições de trabalho. A maioria desses esforços não obteve sucesso e, quando leis foram aprovadas, faltaram os instrumentos para fiscalizar sua implementação e punir os infratores. No entanto, tais iniciativas permitem matizar tanto as leituras do domínio absoluto da perspectiva liberal de não intervenção nas relações de trabalho quanto a ideia da indiferença da totalidade do movimento operário em relação ao recurso à legislação.
Com efeito, a ênfase da “era Vargas” na questão social não constituiu um “marco zero” dos direitos trabalhistas, mas tem suas raízes fincadas na Primeira República.[63] De qualquer maneira, o pós-1930 se diferencia por encravar um novo “regime de cidadania”: eram considerados cidadãos e, portanto, sujeitos de direitos apenas as pessoas empregadas em ocupações reconhecidas legalmente.[64] Ficava desprovida de proteção a grande maioria dos trabalhadores, posto que, por não terem “ofício” previstos em lei os desempregados, trabalhadores domésticos e rurais não contavam com “benefícios” sociais e trabalhistas.[65] A exclusão pelo corte de gênero e raça foi considerável: 40% das mulheres negras que declararam ocupação profissional para o Censo de 1950 trabalhavam como empregadas domésticas e 31% na agricultura, com baixíssima ou nenhuma remuneração. Pressões dos grandes proprietários de terras e produtores agrícolas foram determinantes para que a CLT não se tornasse isonômica em relação aos trabalhadores rurais. Na década de 1950, o número de trabalhadores rurais representava o dobro do restante da população economicamente ativa, sendo a grande maioria composta por “pretos e pardos”. Além disso, a maior concentração de negros estava no campo.[66] Considerações de raça e gênero talvez não fossem expressamente verbalizadas nos processos de elaboração, discussão e aprovação das leis que excluíram mulheres e negros que compunham o força de trabalho no campo. Contudo, não deixaram de fazer parte da “ética do silêncio” racial e sexista nas esferas do direito e das instituições jurídicas.[67]
As pesquisas de Claudio Batalha e Fernando Teixeira da Silva se inscrevem neste conjunto de questões, tematizando as tensões entre inclusão e exclusão dos trabalhadores no âmbito dos direitos, com destaque para o papel das normas legais, dos debates jurídicos e do funcionamento da Justiça na definição de sujeitos portadores de direitos. Além disso, ao abranger parcela considerável do período republicano brasileiro, seus estudos lidam com os argumentos e silenciamentos de raça e gênero que deram sustentação e buscaram legitimar as desigualdades na distribuição dos direitos. A questão das fronteiras entre trabalho escravo e livre também atravessa ambas as investigações.
A pesquisa individual de Claudio Batalha, que se intitula “Trabalhadores na busca de direitos no alvorecer da República: Sadock de Sá e o Culto ao Trabalho”, insere-se no contexto em que o trabalho manual é recolocado no âmbito do “trabalho livre”. O estigma em torno do trabalho manual não é uma particularidade das sociedades escravistas, mas ganhou maior peso naquelas em que esteve mais associado à condição de escravo e à raça. A partir dos séculos XVIII e XIX, a forma encontrada por trabalhadores qualificados para lidar com esse estigma e a correlata exclusão de direitos que o acompanha foi a defesa do valor do trabalho por meio de organizações como as sociedades mutualistas e os periódicos que produziam um discurso de valorização do trabalho manual como gerador de toda riqueza. No decorrer do século XIX, esse discurso e as formas de ação passaram por alterações, visando não apenas o reconhecimento da existência do trabalho, mas a obtenção de direitos para os trabalhadores. Isso se deu tanto pela diversificação das formas de atuação e organização dos trabalhadores quanto pela elaboração de discursos com alcance político mais amplo. A lógica da corporação do ofício deixava de ser a referência para dar lugar a uma lógica que via o conjunto dos trabalhadores, ou seja, a classe, como elemento central.
Para usar uma metáfora empregada por Eric Hobsbawm, a história pode ser vista a partir de um telescópio ou de um microscópio,[68] de modo que a investigação de Claudio Batalha busca analisar o processo de transformação nas formas de ação e organização dos trabalhadores entre a década de 1880 e início dos anos 1920, tanto por meio do enfoque de processos mais gerais quanto da atuação e das propostas específicas de Francisco Juvêncio Sadock de Sá (1856-1921), torneiro mecânico do arsenal de guerra do Rio de Janeiro, assim como de seus seguidores. O processo mais amplo das mudanças operadas nos movimentos e na organização dos trabalhadores em sua luta por direitos ganha uma dimensão mais pormenorizada a partir da trajetória e da atuação de um indivíduo, que exerceu papel central na formulação e implementação de novos instrumentos de luta para levar adiante esse propósito. Sadock de Sá não será abordado como caso exemplar, mas como caso extremo no interior do movimento operário carioca de articulação dos direitos com garantias legais.
Desde os anos de 1880, Sá foi o redator dos documentos fundadores de algumas sociedades operárias que ainda espelhavam a lógica da valorização do trabalho manual. Nos primeiros anos do século XX, passou a escrever na imprensa operária e a vincular a capacidade do operariado na obtenção de direitos à eleição de candidatos provenientes do meio operário, únicos capazes de defender os seus interesses. Nesse processo, verifica-se a passagem para um discurso que direciona o foco para os interesses da classe e não mais de categorias profissionais específicas. Todavia, ao ilustrar como abordagens micro-históricas podem problematizar e enriquecer abordagens de processos mais amplos, a trajetória de aparente radicalização política e ampliação das lutas para a totalidade da classe por parte de Sadock de Sá foram interrompidas pela adoção de uma postura cada vez mais moderada e de abandono da política classista em benefício da defesa dos direitos de determinadas parcelas de trabalhadores.
Assim, seu ativismo no Círculo dos Operários da União e a formulação da doutrina do Culto ao Trabalho, que desprezava formas mais abrangentes de organização de classe e condenava as greves, marcaram uma nova inflexão em seu entendimento da luta por direitos. De uma postura muito próxima à de outras lideranças e correntes atuantes no movimento operário, sua perspectiva acabou se voltando para uma política sindical que se pretendia original, porém pouco inclusiva, destinada para aquilo que muito anos mais tarde seria batizado de “sindicalismo de resultados”, mas com a particularidade de que, para ele e seu grupo, os “resultados” dependiam de leis que garantissem os direitos alcançados. A ação desse grupo se sustentava, sobretudo, na pressão e no convencimento do Estado e dos parlamentares quanto à necessidade de leis reguladoras do trabalho.
Ainda que, com o passar do tempo, Sá tenha se voltado para os interesses dos operários da União, universo quase que exclusivamente masculino, suas propostas em defesa da legislação do trabalho também incluíam a regulamentação do trabalho feminino. Em 1905, integrou o único partido operário a ser fundado por uma mulher na Primeira República, o Partido Operário Independente, dirigido por Elisa Scheid. De modo geral, a perspectiva da República de silenciar sobre questões de raça e cor prevaleceu também no movimento operário do período. Afora fotografias, prontuários policiais e, eventualmente, processos judiciais, a cor está ausente da documentação em geral e das estatísticas. Na própria imprensa operária, são raras as menções explícitas à raça, ainda que a percepção da diferença racial não estivesse de todo ausente, como demonstra uma correspondência de Sadock de Sá, de 1883, quando ainda vigorava a escravidão e o Império, que propunha a realização de “um congresso de operários, artistas e industriais de todas as cores, sexos e nacionalidades”.[69] A despeito das menções (raras) à questão racial, estas não se traduziram em propostas concretas para lidar com diferenças e desigualdades, ao contrário do que ocorre no caso das mulheres.[70]
A pesquisa individual de Fernando Teixeira da Silva, “Trabalhadores rurais: classe, raça e gênero na Justiça do Trabalho”, também busca examinar como recortes de classe, raça e gênero operaram para a invisibilidade do trabalho de muitos homens e mulheres no campo. Seu objetivo é investigar as “razões jurídicas” que contribuíram para excluir de cobertura legal os trabalhadores rurais submetidos ao secular sistema de colonato na região de Ribeirão Preto/SP entre as décadas de 1950 e 1970.[71] A partir de meados da década de 1950, muitos colonos ingressaram na Justiça do Trabalho para reclamar direito a salário mínimo, férias, descanso semanal remunerado e aviso prévio - as únicas garantias legais previstas para os “rurícolas”. Na visão de advogados, magistrados, políticos e fazendeiros, os colonos sequer seriam “trabalhadores rurais” porque supostamente contratavam serviços por “empreita”, sem estabelecer relações de dependência e subordinação a um empregador. Assim, considerados “autônomos”, estariam desprovidos de proteção trabalhista.
Após renhidas batalhas judiciais, a Justiça do Trabalho os enquadrou na categoria de “trabalhadores rurais” com aquelas poucas garantias legalmente reconhecidas. Todavia, surgiram novas clivagens, como as de idade e, sobretudo, gênero. A despeito de o regime de colonato requisitar o trabalho familiar, apenas o “chefe da família” podia receber remuneração, instaurar processo na Justiça do Trabalho e obter os direitos assegurados pela legislação. O trabalho de filhos, filhas e esposas era visto como “auxiliar”, fazendo prevalecer o “patriarcado do salário”, que cria as condições materiais para a apropriação do trabalho das mulheres pelos homens.[72] As atividades delas na lavoura cafeeira, que ampliava a renda familiar, bem como o trabalho doméstico e de subsistência responsável pela reprodução da força do trabalho, não configurariam trabalho por estarem à margem das relações salariais diretas entre o empregador e o “chefe da família”.[73]
Muitas mulheres passaram a instauraram ações trabalhistas para que lhes fosse reconhecido o direito individual aos mencionados direitos. A demanda incidia sobre diversos arranjos clássicos da divisão sexual do trabalho, sobre a família como instituição de dissimulação do trabalho “feminino”, sobre a apropriação do trabalho das mulheres e sobre o salário como fator de exploração e ocultamento do trabalho não remunerado. No entanto, prevaleceu a alegação de que seus esforços laborais eram “auxiliares” ao do “varão” da família, prerrogativa deste alicerçada nos costumes. Na medida em que o colonato entrava em declínio, sendo substituído pelo trabalho volante de homens e mulheres, foram substancialmente alterados os significados das relações salariais para ambos, bem como a percepção deles sobre identidades relacionadas a trabalho e gênero.[74]
A pesquisa de Fernando T. Silva enfoca também os debates sobre as relações entre escravidão e liberdade para caracterizar as condições de realização do trabalho rural. Juristas, advogados, juízes e parlamentares prescreviam a legislação trabalhista para o homem do campo como um dos meios mais eficazes para pôr fim à situação dos “escravos brancos”, termo utilizado em processos trabalhistas para se referir ao trabalhador rural à época.[75] Está implícito neste designativo que as relações de trabalho no campo estariam despidas de conotações raciais, posto que estas teriam terminado em 1888, reduzindo racismo a escravidão. No pós-abolição, não faria sentido algum falar em racismo, pois a ênfase recaía sobre os “escravos da terra” ou “párias brancos”.[76] Talvez a maioria dos trabalhadores rurais de Ribeirão Preto fosse não-branca, sobretudo após o forte êxodo de trabalhadores de Minas Gerais e do nordeste. Assim, “escravos brancos”, além de elidir discriminações raciais, é uma designação que diz muito sobre como a “escravidão histórica” era entendida. Negro equivalia sempre a escravo, enquanto o racismo dizia respeito exclusivamente às pessoas reduzidas à escravidão ou que eram dela egressos. Nesta lógica, a abolição teria colocado termo ao racismo, “e os próprios livres e libertos não teriam sentido na pele a sua presença”.[77] Só com o pós-abolição é que teria emergido uma sociedade organizada pelo “trabalho livre”, que, por sua vez, é identificado a uma cor (“brancos”), destituída de relações e discriminações raciais. Tal categorização é um evidente mecanismo de racialização que homogeneíza os trabalhadores rurais na perspectiva da branquitude e da classe social como marcadores que a todos englobaria de forma indistinta. A escravidão emerge como um problema residual e referido apenas às condições de vida e trabalho.
Pululam na documentação as referências a “trabalho escravo”, empregado sobretudo como metáfora, aproximando em vários aspectos os trabalhadores rurais da segunda metade do século XX aos escravos das últimas décadas da sociedade escravista, conforme se observa na fala de advogados e juízes trabalhistas. Ambos eram representados como seres anômicos, incapazes de agir por si mesmos e, portanto, dependentes de uma legislação trabalhista que os libertasse e os dignificasse. Os legisladores das décadas de 1950 e 1960 se arvoravam em “abolicionistas” dos “escravos brancos”, em novos Nabucos que evitariam por meios legais e legislativos que estes conquistassem a liberdade “pela força”.[78] Não parece simples coincidência que tais registros se assemelhem bastante às interpretações da Escola Paulista de Sociologia sobre a suposta condição anômica de escravos e libertos antes e depois da abolição. Tais interpretações podem ter alimentado os sentidos que legisladores, advogados, escritores e juízes atribuíam aos “escravos da terra”. Pode-se especular também que, no contexto das “teorias da modernização”, muito em voga à época, ao enfatizar a “transição” do mundo rural ao urbano, aqueles atores sociais fossem buscar na “transição do trabalho escravo para o livre” a gênese e o modelo explicativo para as condições de vida e trabalho dos “escravos brancos”. Ao mirar o trabalhador rural, assemelhavam-no ao escravo, e vice-versa. O que unia os abolicionistas de antanho aos “abolicionistas” contemporâneos era o poder de ambos de se anteciparem às demandas dos trabalhadores por meio de uma legislação que os emancipasse do cativeiro escravo do século XIX e do “cativeiro da terra” do XX.
Nos autos trabalhistas consta ainda a expressão “trabalho análogo a de escravo”, mas sem conotação metafórica e sem o sentido empregado pelo artigo 149 do Código Penal de 1940: crime contra a liberdade pessoal.[79] Juízes e advogados mobilizavam o termo não para nomear práticas de trabalho forçado, violência física, aliciamento fraudulento e imobilização dos trabalhadores por dívidas. Eles se referiam a situações degradantes, aviltamento da remuneração, fraudes contra direitos, condições indignas de vida relacionadas a moradia, alimentação, higiene e saúde. Ou seja, já utilizavam o conceito no sentido adotado pela legislação e por instituições muito recentes que se voltam ao combate do “trabalho escravo contemporâneo”, visto como um atentado à dignidade humana. Tais referências permitem dialogar, portanto, com os estudos que, via de regra, saltam do sentido conferido pelo Código Penal de 1940 a “trabalho análogo a escravo”, que o reduz ao cerceamento da liberdade, à alteração do artigo 149, sancionada em 2003, que o define, entre outros aspectos, pela condição degradante do trabalhador. O que se pode observar nos debates havidos nas décadas de 1950 e 1960 é que a conotação atual conferida ao termo não estava ausente naquele período, de maneira que há ainda um caminho subterrâneo a ser percorrido sobre os significados de trabalho análogo a de escravo ao longo de um largo período.
Tais argumentos acerca da necessidade de uma legislação específica para regular o trabalho rural, assim como as disputas na Justiça do Trabalho, a organização coletiva e as lutas pela terra, levaram à aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural (ETR) pelo Congresso Nacional, em 1963, que concedia aos trabalhadores rurais os diretos até então válidos para os assalariados urbanos. No entanto, ao incluí-los na lei, o ETR criava outras diferenciações e exclusões, pois só seriam amparados os trabalhadores com mais de um ano de contrato de trabalho, enquanto os demais entrariam na categoria de “eventuais”. A pesquisa de centenas de processos trabalhistas instaurados na Junta de Conciliação de Julgamento de Ribeirão Preto, de 1957 à revogação do ETR, em 1973, busca compreender as atribuições de sentido em torno da legislação trabalhista e a apropriação que os trabalhadores dela fizeram. A hipótese da investigação é que os conflitos nos tribunais em torno do reconhecimento de apenas quatro direitos consagrados na CLT foram suficientes para a rápida erosão do sistema de colonato. As lutas travadas na Justiça do Trabalho colocaram em xeque os fundamentos sociais e culturais de uma longa tradição paternalista assentada em obrigações e costumes consuetudinários, na medida em que estes passavam a ser mediados pelo contrato, pela lei e pelo judiciário. Todavia, os proprietários rurais reagiram com violência e expulsaram de suas terras muitos dos antigos moradores em favor da contratação do trabalho volante, e o fizeram amparados pela própria lei. Com isso, vasta população de trabalhadores, sem acesso à moradia e à terra, passaria a residir nas periferias das cidades, de onde partiam diariamente para as fazendas, sem que as leis trabalhistas os alcançassem.
Com a intervenção em sindicatos e a forte repressão durante a ditadura militar, a Justiça do Trabalho se tornaria um dos poucos espaços de garantia de direitos para os que ainda mantinham “vínculo empregatício”. Contudo, a revogação do ETR, em 1973, e a decretação de uma nova lei foram responsáveis por outra operação conceitual na definição de “trabalhador rural”. Segundo um deslocamento semântico, no lugar deste ingressava na lei o “empregado rural”: aquele que presta “serviços de natureza não-eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário”.[80] O ETR não contemplava o trabalhador que não tivesse mais de um ano de contrato de trabalho, mas considerava “trabalhador rural” todo aquele que prestasse serviço “mediante salário em dinheiro ou ‘in natura’, ou parte ‘in natura’ e parte em dinheiro”. A lei de 1973 era categórica quanto à remuneração exclusivamente em sua forma-salário, ampliando a exclusão de categorias como parceiros, rendeiros e colonos. Mais uma vez, o salário emerge como elemento central na categoria social de trabalho e trabalhadores.
Ribeirão Preto e região configuram um espaço privilegiado de pesquisa para a abordagem destas questões. De 1880 aos anos 1950, quando o café passou a dividir espaço com a cana-de-açúcar, a região era o segundo maior polo de concentração de trabalhadores rurais do país e o primeiro no estado de São Paulo. Assim, o processo de substituição do colonato pelo trabalho eventual foi mais agressivo nessa localidade. Ademais, a Junta de Ribeirão Preto se tornou o principal locus do movimento de trabalhadores rurais até o golpe de 1964. A pesquisa de Fernando T. Silva, portanto, lida com o problema das tensões entre direitos e desigualdades de gênero, raça e classe na regulação do trabalho rural em um momento de profundas transformações nas relações de trabalho no campo.
Como já se observou, os projetos individuais foram apresentados acima agrupados por suas afinidades cronológicas e temáticas, mas permitem também muitos outros cruzamentos e diálogos entre si e a partir do eixo fundamental que os conforma, a saber o problema dos direitos desiguais e dos regimes de cidadania. Assim, de forma mais sistemática, elencamos a seguir os principais aspectos que atravessam os projetos individuais e permitem combinações diversas entre eles, de modo a mostrar os potenciais inovadores do Projeto e, principalmente, sua coesão.
Observe-se, inicialmente, que todas as propostas dos pesquisadores partem de maneira inequívoca do problema dos direitos desiguais. No Antigo Regime, eram critérios de nascimento e honra que definiam pessoas e grupos e seus respectivos privilégios e distinções, estruturando as práticas do poder em relação a ameríndios e africanos na América portuguesa do Antigo Regime (abordados pelas pesquisas de Silvia Lara e Lucilene Reginaldo). No século XIX, os critérios de propriedade delimitaram o exercício da política, dividindo os cidadãos em ativos e passivos, homem cidadão e mulher não-cidadã, escravos libertos com direitos políticos e escravos africanos sem direitos políticos. Tais desigualdades alargaram as exclusões durante o “segundo escravismo” (como discute Robert Slenes), fizeram prevalecer a autoridade masculina dos senhores em relação à alforria das escravas (no caso da pesquisa de Sidney Chalhoub) e produziram acessos diferenciais para escravos e ex-escravos no âmbito da arena jurídica e da burocracia estatal antes e depois da abolição (na de Ricardo Pirola). Depois de 1888, o ideário liberal de indivíduos livres e iguais implicou uma rarefeita legislação social e trabalhista durante a Primeira República (conforme analisa Claudio Batalha), enquanto a cidadania pela via dos direitos sociais no pós-1930 abriu novas clivagens, sobretudo de idade, raça e gênero entre trabalhadores rurais (no projeto de Fernando T. Silva).
Esta breve síntese reafirma o modo como a questão dos direitos desiguais estrutura e serve de base para a formulação dos problemas de pesquisa que orientam todas as investigações da equipe. Ela permitiu seu primeiro agrupamento em conjunturas que distribuem no tempo os diferentes regimes de cidadania, facilitando aproximações empíricas e diálogos específicos, relacionados aos contextos históricos analisados. Todavia, esse arranjo não se limitou a grandes periodizações (Antigo Regime, século XIX e XX, escravidão e trabalho “livre”), mas foi fundamental para que cada projeto considerasse a noção heurística de regimes de cidadania com vistas a mostrar como, nos diversos contextos tratados, se constituiu o conjunto de direitos desiguais, flexíveis e instáveis. Do mesmo modo, ainda que com pesos diversos, todos mobilizam categorias de gênero, raça e classe, assim como as formas pelas quais os sujeitos interpelaram a distribuição desigual de direitos. É justamente o fato de todas as propostas individuais lidarem com esse feixe comum de problemas que permite que dialoguem entre si e todas contribuam para demarcar mudanças ao longo do tempo e verificar os processos que, por meio de negociações e conflitos, resultaram em noções alternativas de cidadania.
Com efeito, será assim que se poderá aprofundar a reflexão sobre como, nos quadros do império colonial português e dos impactos do tráfico atlântico de escravos, foi possível considerar a inclusão de novas categorias no corpo político colonial, redimensionando concepções de vassalagem, liberdade, pertencimentos, ascensão social, de modo a cravar mudanças nas hierarquias sociais do Antigo Regime. Ao longo do século XIX, se poderá examinar com mais acuidade como homens e mulheres escravos e ex-escravos expandiram o arcabouço legal e jurídico que definia o jogo de inclusão e exclusão, tendo sido fundamental para isso a incorporação de práticas costumeiras fundadas em uma economia moral africana que valorizava os significados de respeito e dignidade. Paralelamente, será possível detalhar as maneiras pelas quais escravas e libertas impunham limites ao poder de senhores e maridos por meio de ações judiciais que impactaram as relações tradicionais entre gênero e escravidão. Do mesmo modo, poder-se-á investigar como práticas jurídicas, legislação, concepções científicas e ações extra-legais, como as dos linchamentos, reorganizaram hierarquias raciais e sociais na definição de cidadania para os egressos da escravidão. No decorrer do período republicano, será possível compreender melhor os sentidos de trabalho manual e de trabalho livre, assim como o de direitos sociais, que foram sendo redefinidos por meio da atuação de sujeitos e forças políticas interessadas na configuração das garantias legais, não sem contradições e silenciamentos, dos direitos de trabalhadores negros e das mulheres. Será ainda possível verificar como, com a ampliação dos direitos sociais por meio do “sistema CLT”, grupos até então excluídos, como homens e mulheres que trabalhavam no campo (em sua maioria negros), ampliaram sua proteção legal por meio de lutas travadas na arena parlamentar e judiciária.
Outros cruzamentos entre os projetos individuais também estão no horizonte. Como já se mencionou, a experiência de pesquisa coletiva acumulada no último Projeto coletivo sediado no CECULT indica a necessidade de atentar para o fato de a oposição entre escravidão e liberdade rondar a discussão acerca da desigualdade de direitos. Do século XVIII ao XX, ela se coloca tanto em termos históricos quanto serve de referência - e muitas vezes de metáfora ou analogia - para a caracterização das relações sociais. Por isso, a presença transversal deste tema em todas as pesquisas individuais é um dos caminhos para o diálogo entre elas. Apenas a guisa de exemplo, à primeira vista distantes, a pesquisa que parte da legislação pombalina (de Silvia Lara) e a que examina os direitos trabalhistas das trabalhadoras do campo (de Fernando T. Silva) empreendem ambas uma reflexão sobre os significados da escravidão e da liberdade. Em um caso, destaca-se a questão da concessão de liberdades e privilégios em um contexto em que a escravidão não é contestada. No outro, a escravidão é a principal analogia que orienta o debate acerca dos direitos. Nos dois casos, trata-se, no entanto, da inscrição legal de direitos e da construção de regimes de cidadania (em contextos históricos bastante diversos) que criaram arenas de luta que talvez guardem convergências analíticas - aspecto que certamente será discutido pelos dois pesquisadores e por outros membros da equipe em diversas oportunidades.
Mais um caminho de diálogo entre as pesquisas individuais é oferecido pela comparação das noções de cidadania e do modo como os marcadores de raça, classe e gênero operam na constituição dos diversos regimes de cidadania. Eis, aqui, um desafio conscientemente assumido pelos membros da equipe: o de cruzar perguntas e formas de abordagem desigualmente distribuídas. Algumas das pesquisas individuais estão formuladas considerando de modo diverso, por exemplo, as diferenças raciais e de gênero. É o caso da análise das dimensões sociais e políticas da liberdade no final do século XVIII e início do XIX que, no que se refere à pesquisa de Silvia Lara, enfatiza mais as discriminações raciais, enquanto a de Lucilene Reginaldo busca reconhecer a centralidade do gênero para a mobilidade social das pessoas livres de cor. Outras, como no projeto de Sidney Chalhoub, partem do marcador de gênero para examinar a negação de direitos das mulheres negras escravizadas. De modo diverso, a presença ou o silenciamento sobre raça e gênero também estão presentes nos estudos sobre o “trabalho livre” na República, nos projetos de Claudio Batalha e Fernando T. Silva. É o desenvolvimento desses projetos individuais, de modo simultâneo e dialógico, que permitirá o aprofundamento da problemática mais ampla das formas de produção de desigualdades e compreender como operam as discriminações de raça, classe e gênero.
Há ainda uma via de diálogo importante, que diz respeito a aspectos metodológicos. As pesquisas individuais aqui propostas empreendem abordagens diversas, mais panorâmicas ou específicas, lidando com fontes que - embora pertencendo a períodos e contextos institucionais variados - guardam semelhanças. Assim, por exemplo, as pesquisas de Robert Slenes, Sidney Chalhoub, Ricardo Pirola e Fernando Teixeira recorrem a fontes judiciais, cíveis ou criminais. Do mesmo modo, a legislação constitui documentação importante para as pesquisas de Silvia Lara, Ricardo Pirola, Cláudio Batalha e Fernando T. da Silva. Embora o uso da legislação seja já bem antigo e o das fontes judiciais não seja historiograficamente uma novidade, estes e outros membros da equipe têm larga experiência em lidar com esses tipos documentais, desenvolveram e continuam desenvolvendo instrumentos de pesquisa específicos para lidar com suas informações (como se detalhará mais adiante), abrindo espaço para que esses aspectos possam merecer uma reflexão mais acurada, especialmente sobre os procedimentos de pesquisa que implicam. Um segundo exemplo é dado pelas pesquisas que recorrem à análise de trajetórias individuais, como a que investiga libertos nascidos nas Minas Gerais que estudaram em Coimbra (Lucilene Reginaldo) e a que focaliza a atuação de um militante pelos direitos dos trabalhadores na Primeira República (Claudio Batalha). Confrontadas com as abordagens mais panorâmicas e outras pesquisas individuais, tal convergência poderá gerar reflexões sobre a importância do recurso biográfico e de abordagens micro-históricas na articulação entre o geral e o particular, o global e o local, etc.
Ao se iluminarem reciprocamente, as pesquisas individuais certamente produzirão uma reflexão efetivamente coletiva sobre o modo como, ao longo do tempo e em diferentes contextos, as desigualdades e os direitos articulavam diversos regimes de cidadania. Os resultados desses diálogos entre os vários projetos, em termos cronológicos, temáticos ou metodológicos, permitirão um adensamento das conexões entre os membros da equipe, com resultados que poderão ser expressos na produção de textos a quatro ou mais mãos ou na organização de coletâneas.
[1] As obras clássicas a respeito são: Antonio Manuel Hespanha, As vésperas do Leviatã. Instituições e poder político. Portugal, século XVII. Coimbra: Almedina, 1994; Antonio Manuel Hespanha (org.). Poder e instituições na Europa do antigo regime. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.
[2] Antonio Manuel Hespanha. Imbecilitas. As bem-aventuranças da inferioridade nas sociedades de Antigo Regime. São Paulo: Annablume, 2010.
[3] O tema foi analisado em Silvia Hunold Lara. Fragmentos setecentistas. Escravidão, cultura e poder. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
[4] Ver, em especial, a lei sobre a liberdade dos índios do Brasil de 6 de junho de 1755, a que restringiu o cativeiro dos chineses em 28 de março de 1758, da abolição do tráfico de africanos escravizados para Portugal em 19 de setembro de 1761, da equiparação dos súditos asiáticos e africanos orientais cristãos aos brancos nascidos em Portugal de 2 de abril de 1761, e a que libertou os nascidos de ventre escravo em Portugal e Algarves em 1773. Bases de Dados “Legislação: Trabalhadores e Trabalho em Portugal, Brasil e África Colonial Portuguesa”. Disponível em: https://www.ifch.unicamp.br/cecult/lex/web/; e “Ius Lusitaniae. Fontes históricas do Direito Português”. Disponível em: http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu=arquivo .
[5] Ver Francisco C. Falcon e Fernando A. Novais. “A extinção da escravatura africana em Portugal no quadro da política econômica pombalina”. Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História, São Paulo, 1973, vol. 1, p. 405-431; Jorge Fonseca. “As leis pombalinas sobre a escravidão e as suas repercussões em Portugal”. Africana Studia, 14, 2010, p. 29-36.
[6] Ver, entre outros, Ângela Domingues. Quando os índios eram vassalos. Colonização e relações de poder no norte do Brasil na segunda metade do século XVIII. Lisboa: CNPCDP, 2000; Rita Heloisa de Almeida. O diretório dos índios. Um projeto de "civilização" no Brasil do século XVIII. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997.
[7] Ver, por exemplo, Silvia Hunold Lara. “O espírito das leis: tradições legais sobre a escravidão e a liberdade no Brasil escravista”. Africana Studia, 14, 2010, p. 73-92
[8] Particularmente instigante é a abordagem de Lauren Benton. “Law in Diaspora: The Legal Regime of the Atlantic World” Law and Colonial Cultures. Legal Regimes in World history: 1400-1900. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 31-79; “Colonial Law and Cultural Difference: Jurisdictional Politics and the Formation of the Colonial State”. Comparative Studies in Society and History, 41 (3), 1999, p. 563-588
[9] Ver Barbara A. Sommer. Negotiated Settlements: Native Amazonians and Portuguese Policy in Pará, Brazil, 1758-1798. Albuquerque: University of New Mexico, 2000 (Tese de doutorado); Isabelle Braz Silva. Vilas de Índios no Ceará Grande: dinâmicas locais sob o Diretório Pombalino. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002 (Tese de Doutorado).
[10] Luiz Geraldo Silva. “‘Esperança de liberdade’. Interpretações populares da abolição ilustrada (1773-1774)”. Revista de História, 144, 2001, p. 107-149.
[11] Para um panorama do debate sobre a reescravização na historiografia brasileira, ver Fernanda Aparecida D. Pinheiro. Em defesa da liberdade: libertos e livres de cor nos tribunais do Antigo Regime português (Mariana e Lisboa, 1720-1819). Belo Horizonte: Fino Traço Editora, 2018, p. 11-119.
[12] Se no contexto africano havia o reconhecimento de hierarquias locais que definiam o acesso a bens e prestígio no âmbito colonial, do lado americano do Atlântico, as origens africanas e a proximidade ou distanciamento da ascendência influenciavam o mundo do trabalho e a vida social, determinando o acesso e o grau de participação em irmandades leigas específicas. Entre os privilégios canônicos que geraram disputas e estranhamentos na colônia estava o critério que definia o lugar de cada irmandade nas procissões oficiais segundo sua antiguidade e não em razão da “diferença das cores”. Ver, entre outros, Lucilene Reginaldo. Os Rosários dos Angolas. Irmandades de africanos e crioulos na Bahia Setecentista. São Paulo: Alameda, 2011, p. 192. Sobre o entrelaçamento dos critérios de cor e condição social nas irmandades leigas, Larissa Viana. O idioma da mestiçagem. As irmandades de pardos na América portuguesa. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.
[13] Um artigo recente analisa dois casos de estudantes que têm o doutoramento negado na Universidade de Coimbra considerando a relevância da ascendência paterna. Lucilene Reginaldo. “‘Não tem informação’: mulatos, pardos e pretos na Universidade de Coimbra (1700-1771)”. Revista de Estudos Ibero-Americana, 44 (3), 2018.
[14] Francis Albert Cotta. “Os Terços de Homens Pardos e Pretos Libertos: mobilidade social via postos militares nas Minas do século XVIII.” Mneme-Revista de Humanidades, 3 (6), 2002; Crislayne Alfagali. Em casa de ferreiro. Os artesãos do ferro nas Minas Gerais do século XVIII. São Paulo: Alameda, 2018.
[15] O caso dos títulos de nobreza alcançados pelos filhos de Chica da Silva é exemplar. Júnia Ferreira Furtado. “Mulatismo, mobilidade e hierarquia nas Minas Gerais: os casos de Simão e Cipriano Pires Sardinha”. In: Rodrigo Bentes Monteiro; Bruno Feitler, Daniela Buono Calainho, Jorge Flores (orgs.). Raízes do privilégio. Mobilidade social no mundo Ibérico do Antigo Regime. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 355-386.
[16] Destacam-se aqui os trabalhos precursores de Maria Inês Côrtes de Oliveira. O liberto: o seu mundo e os outros: Salvador, 1790/1890. São Paulo: Corrupio, 1988; Sheila de Castro Faria. Sinhás pretas, damas mercadoras. As pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João Del Rey (1700-1850). Niterói: UFF, 2004 (Tese de Doutorado).
[17] Maria Emília Santos. “Mulatos, sua legislação pela chancelaria régia no século XVI”. Studia, 53, 1994, p. 237-46; João de Figueirôa-Rêgo; Fernanda Olival. “Cor da pele, distinções e cargos: Portugal e espaços atlânticos portugueses (séculos XVI a XVIII).” Tempo, 16 (30), 2011, p. 137; Isabel M. R. Mendes Drumond Braga. “A mulatice como impedimento de acesso ao ‘Estado do Meio’”. Actas do Congresso Internacional Espaço Atlântico de Antigo Regime: Poderes e Sociedades. 2008. Disponível em: http://cvc.institutocamoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/isabel_drumond_braga.pdf. Acesso em: 12/09/2014; Francis Dutra. “Ser mulato em Portugal nos primórdios da Época Moderna”. Tempo, 30, jan.-jun. 2011, p. 101-114; Ronald Raminelli. “Impedimentos da cor. Mulatos no Brasil e em Portugal, c. 1640-1750”. Vária História, 28 (48), jul.-dez. 2012, p. 699-723.
[18] Agostinho M. Perdigão Malheiro. A escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico e social. Vol. 1. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1866, p. 207.
[19] Caio Prado Júnior. Evolução política do Brasil e outros estudos [1 ed. 1933]. São Paulo: Brasiliense, 1969. Maria Odila Leite da Silva Dias. A interiorização da metrópole e outros estudos [1 ed. 1972]. São Paulo: Alameda, 2005 [2 ed]. Paula Beiguelman. Formação política do Brasil. São Paulo: Editora Livraria Pioneira, 1976 [2 ed. rev]. Lenine Nequete. O poder Judiciário no Brasil a partir da Independência – Império. Porto Alegre: Sulina , 1973. Ilmar R. Mattos, O tempo saquarema: a formação do Estado imperial. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1990. José Murilo de Carvalho. A construção da ordem: a elite política imperial; Teatro de Sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, Relume-Dumará, 1996 [2 ed. rev]. Thomas H. Holloway. Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do século XIX. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1997. Istvan Jancsón (org.). Brasil: a formação do Estado e da nação (c.1770-1850). São Paulo: Hucitec, 2003. José Murilo de Carvalho (org). Repensando o Brasil oitocentista: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. Maria Fernanda Vieira Martins. A velha arte de governar: um estudo sobre política e elites a partir do Conselho de Estado (1842-1889). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2007. Maria de Fátima Silva Gouvêa. O Império das províncias, Rio de Janeiro, 1822-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, FAPERJ, 2008. José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. Clarissa Nunes Maia; Flávio de Sá Neto; Marcos Costa; Marcos Luiz Bretas (orgs.). História das prisões no Brasil, 2 vols. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. André Rosemberg. De chumbo e festim: uma história da polícia paulista no final do Império. São Paulo: EDUSP, FAPESP, 2010. Márcia Berbel, Rafael Marquese e Tâmis Parron. Escravidão e política: Brasil e Cuba, 1790-1850. São Paulo: Hucitec & FAPESP, 2010. José Murilo de Carvalho e Adriana Pereira Campos (orgs). Perspectivas da cidadania no Brasil Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. Izabel Andrade Marson e Cecília H. L. de S. Oliveira. Monarquia, liberalismo e negócios no Brasil: 1780-1860. São Paulo: EDUSP, 2013.
[20] Jeanne Berrance de Castro. A milícia cidadã: a Guarda Nacional de 1831 a 1850. São Paulo: Editora Nacional, 1979. Thomas Flory. El juez de paz y el jurado en Brasil Imperial: control social y estabilidad política en el nuevo Estado, 1808-1871. Ciudad De México: Fondo de Cultura Económica, 1986. Sobre o recrutamento militar e o Exército no Império, ver: Ricardo Salles. Guerra do Paraguai: escravidão e cidadania na formação do Exército. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. Wilma Peres Costa. A espada de Dâmocles: o Exército, a guerra do Paraguai e a crise do Império. São Paulo: Hucitec e Editora da UNICAMP, 1996. Adriana Pereira de Souza. O Exército na consolidação do Império: um estudo histórico sobre a política militar conservadora. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1999. Álvaro Pereira do Nascimento. A ressaca da marujada: recrutamento e disciplina na Armada Imperial. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001. Celso Castro, Vitor Izeckshon e Hendrik Kraay (orgs.). Nova história militar brasileira. Rio de Janeiro: Editora da FGV; Bom Texto, 2004. Fabio Faria Mendes. Recrutamento militar e construção do Estado no Brasil imperial. Belo Horizonte: Argumentum , 2010. Adriano Comissoli e Miquéias H. Mugge, Homens e armas: recrutamento militar no Brasil, século XIX. São Leopoldo: Oikos, 2013.
[21] Maria Clementina P. Cunha (org). Carnavais e outras frestas: ensaios de história social da cultura. Campinas: Editora da Unicamp, 2002. João José Reis. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. Hebe Maria Matos. Escravidão e cidadania no Brasil monárquico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. José Murilo de Carvalho (org). Nação e cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007; Elciene Azevedo et al. (orgs). Trabalhadores da cidade: cotidiano e cultura no Rio de Janeiro e em São Paulo, séculos XIX e XX. Campinas: Editora da Unicamp, 2009. Mônica Duarte Dantas (org). Revoltas, motins e revoluções: homens livres pobres e libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda, 2011; Marcelo Mac Cord; Claudio Batalha (orgs). Organizar e proteger: trabalhadores, associações e mutualismo no Brasil (séculos XIX e XX). Campinas: Editora da Unicamp, 2014; Angela Alonso. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). São Paulo: Companhia das Letras, 2015. Maria Helena Machado; Celso T. Castilho (orgs.), Tornando-se livre: agentes históricos e lutas sociais no processo de abolição. São Paulo: EDUSP, 2015. Celso Thomas Castilho. Slave Emancipation and Transformations in Brazilian Political Citizenship. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016. Lilia M. Schwarcz e Maria Helena Machado (orgs.), Emancipação, inclusão e exclusão: desafios do passado e do presente. São Paulo: EDUSP, 2018. João José Reis. Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
[22] Sidney Chalhoub. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia as Letras, 1990. Jurandir Malerba. Os brancos da lei: liberalismo, escravidão e mentalidade patriarcal no Império do Brasil. Maringa: EDUEM, 1994. Andrei Koener. Habeas-Corpus; prática judicial e controle social no Brasil (1841-1920). São Paulo: IBCCrim 1999. Joseli Mendonça. Entre a mão e os anéis: a lei dos sexagenários e os caminhos da abolição no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 1999. Spiller Pena. Pajens da casa Imperial: jurisconsultos, escravidão e a lei de 1871. Campinas: Editora da Unicamp, 2001. Keila Grinberg. O fiador dos brasileiros: cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. Sidney Chalhoub. Machado de Assis, historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. Silvia Lara; Joseli Maria N. Mendonça (orgs). Direitos e justiças no Brasil: ensaios de história social. Campinas: Editora da Unicamp, 2006. Gizlene Neder. História e direito: jogos de encontros de transdisciplinaridade. Rio de Janeiro: Revan/Faperj, 2007. Gladys Sabina Ribeiro, Edson Alvisi Neves e Maria de Fátima Cunha Moura Ferreira (orgs.), Diálogos entre direito e história: cidadania e justiça. Niterói: EdUFF, 2009. Andrei Koener. Judiciário e cidadania na constituição da República brasileira (1841-1920). Curitiba: Juruá, 2010. Francisco de Assis do Rego e Monteiro Rocha Júnior, Recursos no Supremo Tribunal de Justiça: o liberalismo penal de 1841 a 1871, Curitiba: Juruá, 2013. Ricardo Pirola. Escravos e rebeldes nos tribunais do Império: uma história social da lei de 10 de junho de 1835. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2015. Peter M. Beattie, Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a Nineteenth-Century Brazilian Penal Colony. Durham: Duke University Press, 2015. Beatriz G. Mamigonian. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Mariana Armond Dias Paes. Escravidão e direito: o estatuto jurídico dos escravos no Brasil oitocentista. São Paulo: Alameda, 2019.; .
[23] “Dádiva” chama a atenção para Marcel Mauss. Ensaio sobre a dádiva. São Paulo: Cosac Naify, 2013 [1925]. É usada às vezes para reafirmar o protagonismo dos senhores na “concessão” da alforria. (Márcio de Souza Soares. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos Campos dos Goitacases, c. 1750-1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009.) Já Slenes enfatiza, na gênese da “dádiva”, o conflito social e as demandas dos escravos por respeito.
[24] Rafael Marquese e Ricardo Salles (orgs.). Escravidão e capitalismo histórico no século XIX: Cuba, Brasil, Estados Unidos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016; Robert Slenes. “Varieties of Political Economy in Capitalism with Slavery: Comments on David Eltis’s Essay and his Contributions to Brazilian Historiography”. Almanack, 22, ago. 2019, p. 569-611.
[25] Richard Graham. “Free African Brazilians and the State in Slavery Times”. In: Michael Hanchard (org). Racial Politics in Contemporary Brazil. Durham: Duke University Press, 1999, p. 30-58.
[26] Rafael Marquese. “A Dinâmica da escravidão no Brasil: Resistência, tráfico negreiro e alforrias, séculos XVII a XIX.” Novos Estudos CEBRAP, mar. 2006, p. 107-23.
[27] Robert Slenes. “A ‘Great Arch’ Descending: Manumission Rates, Subaltern Social Mobility and Enslaved, Freeborn and Freed Black Identities in Southeastern Brazil, 1791–1888”. In: John Gledhill e Patience A. Schell (orgs). New Approaches to Resistance in Brazil and Mexico. Durham: Duke University Press, 2012, p. 100-118; Slenes, “Peasants into Precarious Masters: Hard Bargaining and Frequent Manumission in Brazilian Small Slaveholdings, c. 1750-1850.” In: Sabyasachi Bhattacharya and Rana P. Behal (orgs.). The Vernacularizaion of Labour Politics. New Delhi, India: Tulika Books, 2016), p. 146-77.
[28] Robert Slenes. “L’arbre nsanda replanté : cultes d’affliction kongo et identité des esclaves de plantation dans le Brésil du sud-est (1810-1888)”. Cahiers du Brésil Contemporain, 67/68, 2007, p. 217-313; Ricardo Pirola. Senzala insurgente: malungos, parentes e rebeldes nas fazendas de Campinas (1832). Campinas: Editora da Unicamp, 2011; Idem. Escravos e rebeldes nos tribunais do Império: uma história social da lei de 10 de junho de 1835. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2015.
[29] E. P. Thompson. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2ª ed., 1987 [1963, 1968]; Thompson, Senhores e caçadores; James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press, 1976, e livros subseqüentes do mesmo autor, mais recentemente Against the Grain. A Deep History of the Earliest States. New Haven: Yale University Press, 2017. Ver, também, Rogan, The Moral Economists e Nancy Lee Peluso. “Whigs and Hunters: The Origins of the Black Act, by E.P. Thompson”. The Journal of Peasant Studies, 44:1 (2017), p. 309-321.
[30] Robert Slenes. “Africanos centrais”. In: Lilia M. Schwarcz; Flávio Gomes (orgs). Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos. São Paulo: Companhia. das Letras, 2018, p. 64.
[31] Joseph Miller. “Lineages, Ideology, and the History of Slavery in Western Central Africa.” In: Paul E. Lovejoy (org). The Ideology of Slavery in Africa. Beverley Hills: Sage Publications, 1981.
[32] Jane Guyer; Samuel Bellinga. “Wealth in People as Wealth in Knowledge: Accumulation and Composition in Equatorial Africa”. The Journal of African History, 36 (1), 1995, p. 91-120.
[33] Joseph Miller. Way of Death: Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade. Madison: The University of Wisconsin Press, 1988.
[34] Patrick Manning. “African Population, 1650-1950: Methods for New Estimates by Region”. Trabalho apresentado na African Economic History Conference, Vancouver, abr. 2013 (e apêndices em Excel, “AfricaPop.xlsx”), disponível online. Percentagem calculada das estimativas de Manning para as sub-regiões de “Loango” e “Angola” que se aproximam à área de suas “Zonas Atlânticas”; como a aproximação é maior no caso de “Angola”, a queda populacional lá, de 39% (contra 16% para “Loango”), pode ser estimativa mais acurada.
[35] Marcos A. Almeida. Ladinos e boçais: o regime de línguas do contrabando de africanos (1831-c. 1850). Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 2012 (dissertação de mestrado); James Sweet. “Research Note: New Perspectives on Kongo in Revolutionary Haiti”. The Americas, 74 (1), jan. 2017, p. 83-97.
[36] Os verbetes citados são de Karl Laman. Dictionnaire kikongo-français. Bruxelas, 1936, compilado entre 1891-1919; ver também J. Van Gheel [Dicionário Kikongo-francês compilado antes de1652]. In: J. Van Wing e C. Penders (orgs). Le plus ancien dictionnaire bantu. Louvain, 1928, que dá ki-kundi, “uma dignidade da corte” e ki-kunda, “assento/banquinho”.
[37] J. Cordeiro da Matta. Ensaio de dicionário kimbundu-portuguez [Região de Ndongo] (Lisboa, 1893).
[38] Almeida, “Ladinos e boçais”, p. 129-178. Sobre a importância de metáforas “ontológicas” construídas nas línguas bantu (como em outras línguas tonais) a partir de palavras foneticamente semelhantes, ver: Robert Slenes. “Metaphors to Live by in the Diaspora: Conceptual Tropes and Ontological Wordplay among Central Africans in the Middle Passage and Beyond.” Cap. 16 in: Ericka A. Albaugh and Kathryn M. de Luna (orgs.). Tracing Language Movement in Africa. New York: Oxford University Press, 2018, p. 343-363.
[39] Robert Slenes. “Escravos, cartórios e desburocratização: o que Rui Barbosa não queimou será destruído agora?” Revista Brasileira de História, 5 (10), mar.-ago. 1986, p. 166-96; Sidney Chalhoub. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 153-173; Almeida, “Ladinos e boçais”, p. 129-178.
[40] Luca dal Caltanisetta (1970). Diaire congolais (1690-1701). Trad. F. Bontinck. Louvain. Louvain, 1970, p. 29.
[41] Stanley Stein. Vassouras: um município brasileiro do café, 1850-1900. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990 [1957], p. 304 (baseado em entrevistas com ex-escravos na década de 1940).
[42] Chalhoub, Visões da liberdade, p. 23.
[43] O livro reúne artigos publicados por Slenes (atualizados) e novos textos, a maioria na súmula curricular do autor.
[44] Jonis Freire. Escravidão e Família Escrava na Zona da Mata Mineira Oitocentista. Rio de Janeiro: Alameda, 2014; Lizandra M. Ferraz. Entradas para a liberdade: formas e frequência da alforria em Campinas no século XIX. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2010 (dissertação de mestrado).
[45] Ver, como exemplo do método: Robert Slenes. “Senhores e Subalternos no Oeste Paulista”. In: Luiz Felipe de Alencastro (org). História da Vida Privada no Brasil, Vol. II: Império: A Corte e a Modernidade Nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p 233-290.
[46] Para um primeiro resultado desse projeto, Sidney Chalhoub. “Posfácio” a F. C. Duarte Badaró. Fantina: cenas da escravidão. São Paulo, Chão, 2019, pp. 119-191.
[47] Harriet Beecher Stowe. Uncle Tom’s Cabin; or Life Among the Lowly. Londres: H. G. Bohn, 1852.
[48] Danilo Ferretti. “A publicação de A cabana do pai Tomás no Brasil escravista”. Varia Historia, v. 33, no. 61, jan.-abr. 2017.
[49] O Brasil Illustrado, março a junho de 1855; Ludmila de Souza Maia. “Páginas da escravidão: raça e gênero nas representações de cativos brasileiros na imprensa e na literatura oitocentista”. Revista de História, nº. 176, 2017, pp. 1-33; Celso Thomas Castilho. “The Press and Brazilian Narratives of Uncle Tom’s Cabin: Slavery and the Public Sphere in Rio de Janeiro, ca. 1855”. The Americas, jan. 2019, pp. 77-106.
[50] Toni Morrison. Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination. Nova York: Vintage Books, 1993.
[51] Sobre os linchamentos no Brasil e Estados Unidos no período escravista e nas primeiras décadas após a emancipação, ver: José de Souza Martins. Linchamentos: a justiça popular no Brasil. São Paulo: Contexto, 2015. Ricardo F. Pirola. “A lei de lynch no ocaso da escravidão: linchamentos, justiça e polícia (1878-1888)”. In: Regina C. L. Xavier. E Helen Osório (orgs.). Do tráfico ao pós-abolição Trabalho compulsório e livre e a luta por direitos sociais no Brasil. São Leopoldo: Oikos, 2018, p. 454-481. Jacquelyn Dowd Hall. Revolt against Chivalry: Jessie Daniel Ames and the Women’s Campaign against Lynching. Nova Iorque: Columbia University Press, 1979; W. Fitzhugh Brundage. Lynching in the New South: Georgia and Virginia, 1880–1930. Urbana: University of Illinois Press, 1993. Michael J. Pfeifer. The Roots of Rough Justice: The Origins of Lynching in the United States. Urbana: University of Illinois Press, 2011; Manfred Berg and Simon Wendt (orgs.). Globalizing Lynching History: Vigilantism and Extralegal Punishment from an International Perspective. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2011; Waldrep, Christopher. The many Faces of Judge Lynch: Extralegal Violence and Punishment in America. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2002.
[52] Marcos César Alvarez. Bacharéis, criminologistas e juristas: saber jurídico e nova escola penal no Brasil. São Paulo: Método, 2003. Sueann Caulfield. Em defesa da honra: moralidade, modernidade e nação no Rio de Janeiro (1818-1940). Campinas: Editora da Unicamp, 2000.
[53] Marisa Corrêa. As ilusões da liberdade: a escola de Nina Rodrigues e a antropologia no Brasil. Bragança Paulista: Editora da Universidade São Francisco, 2001.
[54] Robert J. Steinfeld. The Invention of Free Labor: The Employment Relation in English & American Law and Culture,1350-1870. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991.
[55] Ver Karl Polanyi. A grande transformação - as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 2000; Pierre Rosanvallon. Le capitalisme utopique: histoire de l’ idée de marche. Paris: Seuil, 1979.
[56] Robert Castel. Les métamorphoses de la question sociale. Paris: Galimard, 1995.
[57] Ver François-Xavier Merrien et al (orgs.). L’ état social: une perspective internationale. Paris: Dalloz, 2005.
[58] Jacques Donzelot. L’ invention du social. Paris: Fayard, 1984, p. 10.
[59] Alain Supiot, Critique du droit du travail. Paris: Quadrige/PUF, 1994, p. 44.
[60] Maurice Dommanget. Histoire du Premier Mai. Paris: Editions de la Tête des Feuilles, 1972, p. 15-23.
[61] Miguel Rodriguez. “1919: le poids des morts”. In: Madeleine Rebérioux (org.). Fourmies et les Premier Mai. Paris: Les Éditions de l’Atelier, 1994, p. 356.
[62] Angela Araújo. A construção do consentimento: corporativismo e trabalhadores nos anos trinta. São Paulo: Scritta, 1998, p. 180.
[63] Ver, por exemplo, Ângela de Castro Gomes e Fernando Teixeira da Silva. “Os direitos sociais e humanos dos trabalhadores no Brasil: a título de apresentação”. In: Ângela de Castro Gomes e Fernando Teixeira da Silva (orgs.). A Justiça do Trabalho e sua história: os direitos dos trabalhadores no Brasil. Campinas, Editora da Unicamp, 2013.
[64] Wanderley Guilherme dos Santos. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro, Campus, 1979. Ver também Brodwin Fisher. A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro. Stanford: Stanford University Press, 2008; Adalberto Cardoso. A construção da sociedade do trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2010.
[65] Esta certamente não é uma particularidade brasileira. Em nome da supremacia branca, a ampla legislação trabalhista do New Deal estadunidense nas décadas de 1930 e 1940 também foi largamente restritiva para negros e mulheres, a maioria dos quais trabalhava nas fazendas sulistas. Ver Ira Katznelson. Fear Itself: The New Deal and the Origins of our time. Nova York-London: Liveright Publiching Corporation, 2013.
[66] P. A. Lovell. “Race, Gender and Development in Brazil”. Latin American Research Review, 29 (3), 1994, p. 17-21.
[67] Fisher; Grinberg; Mattos. “Direito, silêncio e racialização”.
[68] Eric Hobsbawm. “O ressurgimento da narrativa. Alguns comentários”. RH: Revista de História, 2 (3), 1991.
[69] Arquivo Nacional, Fundos Privados Pessoais, QB, Francisco Juvêncio Sadock de Sá, 1880-1920.
[70] Para o período de entreguerras, ver, por exemplo, Fraccaro. Os direitos das mulheres.
[71] As famílias dos colonos encarregavam-se de tratar anualmente de um quantum fixo de pés de café por preço firmado em contrato, com direito a residir na fazenda e utilizar a terra para fins de subsistência, entre outras prerrogativas.
[72] Silvia Federici. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 2017, p. 194. Para uma análise pioneira e abrangente sobre relações de gênero e classe no sistema de colonato, ver Verena Stolcke. Cafeicultura: homens, mulheres e capital (1850-1980). São Paulo: Brasiliense, 1986.
[73] Tal lógica, que associa estreitamente trabalho e salário como mecanismo de invisibilidade das tarefas das mulheres no âmbito da produção e da reprodução, tem longa história em diferentes lugares. Ver, por exemplo, Nicola Verdon. Rural Women Workers in 19th-Century England. Suffolk: The Boydell Press, 2002. Sobre o assunto, ver ainda Silvia Federic. O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. São Paulo: Elefante, 2019.
[74] Ver Julia Chequer. Memórias ocultas: experiências de mulheres nos canaviais de Guariba (1975-1985). CPDOC/FGV, Dissertação de mestrado em História, 2019.
[75] Passos iniciais e firmes sobre tais questões foram dados por Julio Capelupi. O trabalhador rural e o Parlamento. Direitos e política no Brasil, 1960-1963. IFCH-Campinas, Monografia de graduação em História, 2019.
[76] Não é surpreendente que o deputado federal Fernando Ferrari, autor do Estatuto do Trabalhador Rural, tivesse escrito um livro intitulado Escravos da terra (Porto Alegre: Globo, 1963).
[77] Gabriela dos Reis Sampaio et al (orgs.). Marcadores da diferença: raça e racismo na história do Brasil. Salvador: Ed. da UFBA, 2019, p. 9.
[78] Ver Capelupi. O trabalhador rural, capítulo 3.
[79] Ver Ângela de Castro Gomes. “Justiça do Trabalho e trabalho análogo a de escravo no Brasil: experiências, limites e possibilidades”. In: Ângela de Castro Gomes e Fernando Teixeira da Silva (orgs.), A Justiça do Trabalho e sua história: os direitos dos trabalhadores no Brasil. Campinas, Editora da Unicamp, 2013.
[80] Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, artigo 2º, grifo meu.